
Oxigênio
Oxigênio
Podcast e programa de rádio sobre ciência, tecnologia e cultura produzido pelo Labjor-Unicamp em parceria com a Rádio Unicamp. Nosso conteúdo é jornalístico e de divulgação científica, com episódios quinzenais que alternam entre dois formatos: programa temático e giro de notícias.
- #176 – Ecologia do reparo: a produção tecnológica no Santa Ifigênia, parte 1.
Santa Ifigênia, bairro central da capital paulista, conhecido pelo comércio de componentes e produtos eletrônicos, é também um lugar de reparos desses produtos. Neste episódio produzido e apresentado por Yama Chiodi, jornalista do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o GEICT, o bairro é o protagonista. Quem vai falar sobre ele, tratar das atividades que ali são desenvolvidas é a antropóloga portuguesa Liliana Gil, que desenvolve sua pesquisa sobre o Santa Ifigênia na universidade Ohio State, nos Estados Unidos. Liliana conta também como foi a escolha sobre seu objeto de estudo e quais são os resultados encontrados até agora. Este é a primeira de duas partes da história. Acompanhe por aqui.
_____________________________________
Roteiro
[ sons urbanos caóticos aumentam progressivamente]
LILIANA: É um caos, não é? Carros, vendedores de bolo, facas, lojas de eletrônicos, muitos CCTV, sistemas de segurança, vários moços meio que te chamando pra comprar isto e ver aquilo, cê tá interessado nisto?
[ som de caos urbano continua por um instante e depois um fade out até eu começar a falar ]
YAMA: A voz que você escutou é da antropóloga portuguesa Liliana Gil e ela tá falando sobre o Santa Ifigênia, bairro central da capital paulista.
Eu sou Yama Chiodi, jornalista do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o GEICT, e este episódio é mais uma parceria do GEICT com o Oxigênio.
[ vinheta oxigênio]
[começa a tocar Bio Unit ]
O Santa Ifigênia é um bairro antigo, que vem desde o século XIX, e já mudou muito ao longo do tempo. Mas é pelo menos desde a década de 70 do século XX um pólo de venda de produtos e componentes eletrônicos… e também de reparo. De acordo com o Portal da Santa Ifigênia, catálogo online dos comércios da região, são mais de mil lojas. A maioria delas na rua de mesmo nome. O bairro é uma referência internacional. Antigamente seu público era bastante técnico porque supria uma demanda bem mais específica. Profissionais de vários ramos iam até lá em busca de componentes para a construção e manutenção de máquinas e aparelhos elétricos e eletrônicos. Isso ainda acontece hoje, mas seu público se diversificou muito. Hoje a maior parte dos frequentadores do bairro são consumidores finais em busca de fones, tablets, celulares e outros produtos com preços bem mais baratos. Os produtos são de fontes e qualidades variadas. Há produtos originais importados legalmente como em qualquer loja da cidade, mas há também produtos contrabandeados e falsificados. Iphones de todas as idades e produtos sem marca importados da China. Mas além de tudo, é isso é frequentemente invisibilizado, há vendedores capacitados a ajudar as pessoas a resolver seus problemas tecnológicos dentro de suas possibilidades financeiras.
Você deve se lembrar de um episódio relativamente recente em que o deputado federal e polemista Celso Russomanno visitou o bairro, causando confusão e gerando memes.
[Que correção monetária, aqui é Santa Ifigênia, paizão]. Reportagem completa disponível no canal de Celso Russomanno, no link: https://www.youtube.com/watch?v=AOGyS7VRGI4
A reportagem de Russomanno reforçou um estereótipo classista do bairro, muito difundido entre parte da classe média e entre as elites paulistanas. As contradições características dos comércios de centro estão lá: por um lado, uma linha tênue entre práticas legais e ilegais. Por outro, uma democratização do acesso a eletrônicos para pessoas de baixa renda. E a gente sabe que tanto uma coisa como outra gera incômodos nas partes mais abastadas da cidade. Mas o estereótipo classista que associa o bairro a atividades ilícitas não é o único fato que tem afastado potenciais consumidores da região. Lojistas dizem que nos últimos anos o público tem diminuído consideravelmente – o que eles atribuem à prática de comprar pela internet e ao aumento da violência no centro de São Paulo, fatores que foram potencializados durante e após a pandemia. Reportagem da Folha de São Paulo de setembro de 2023 não exita em dar uma explicação logo na manchete, sugerindo que o esvaziamento do Santa Ifigênia está diretamente relacionado com a dispersão da cracolândia.
Mas o que será que uma antropóloga portuguesa, cursando doutorado nos Estados Unidos, encontrou no Santa Ifigênia que contrasta com as visões classistas sobre o bairro? Você já parou para pensar no Santa Ifigênia como um lugar que PRODUZ tecnologia? É sobre isso que a gente conversa em seguida.
[ separador baixo]
YAMA: Uma trajetória inesperada, como muitas vezes é o caso com antropólogos. Uma antropóloga portuguesa com origens na periferia industrial do sul de Lisboa, vai à universidade e acaba pesquisando ciência e arte, tema que a leva aos Estados Unidos. Já durante seu doutorado, uma escola de verão na Unicamp a impacta profundamente. Não apenas ela muda seu tema para priorizar a produção tecnológica, como passa a pensar no Brasil como um lugar ideal para fazer seu trabalho de campo. Visita a zona franca de Manaus, o complexo do Alemão no Rio de Janeiro e também uma série de espaços de ativismo hacker e de produção tecnológica em São Paulo. Entre indas e vindas ao Brasil, termina fazendo parte de seu campo etnográfico no famoso bairro paulistano de Santa Ifigênia. Mais especificamente, numa escola de reparo de celulares.
Na primeira parte de duas dessa entrevista com a professora Liliana Gil, da universidade Ohio State, nos Estados Unidos, conversamos sobre sua trajetória acadêmica até chegar a São Paulo e conhecemos um pouco melhor essa face menos conhecida do Santa Ifigênia, onde as atividades de reparo ganham centralidade. Na segunda parte, conheceremos uma escola de reparo de celulares que fica no bairro e que foi pesquisada de perto pela professora – como antropóloga e como aluna.
Entre boxes infinitesimais e galerias labirínticas, ela encontrou o que chama de ecologia do reparo. Esse termo que dá nome a esse episódio a gente descobre o que é, já já. (pausa) O que você escuta agora são trechos das nossas conversas.
[ separador baixo]
YAMA: Boa tarde Liliana, obrigado por conversar com a gente hoje.
LILIANA: Sim, muito obrigada Yama pela oportunidade.
YAMA: Imagina, nós é que agradecemos pela sua disponibilidade. Antes de a gente falar sobre o Santa Ifigênia em si, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória como pesquisadora. Primeiramente, porque você escolheu a antropologia?
LILIANA: Eu comecei a fazer antropologia na Universidade Nova de Lisboa, onde, na verdade, eu venho, meu treino no ensino médio, acho que fala médio, foi em ciências, matemática, biologia, química. Então quando fui para antropologia, primeiro foi um ato de rebeldia, de querer me afastar um pouco das áreas mais óbvias que seria a engenharia e medicina. E eu estava muito intrigada. A antropologia oferecia cursos sobre, não é?, sobre simbologia, sobre política, sobre economia, eu estava fascinada por essas outras áreas. Culturas do mundo… eu nunca tinha viajado nessa época, então para mim era uma forma de viajar pelos livros.
YAMA: Você manteve sua formação toda na antropologia, né? Mas considerando que seu mestrado em Portugal foi na antropologia médica e que você pesquisava arte e ciência, como foi a mudança que te fez acabar pesquisando produção tecnológica no campo de estudos sociais da ciência e tecnologia?
LILIANA: Eu quando comecei o doutorado, achei que ia fazer uma tese sobre arte e ciência. E achei que ia regressar a Portugal e à Europa e fazer pesquisa em laboratórios de sci-art e espaços comunitários de ciência. Citizen-science, eram tópicos que me interessavam muito. Entretanto, teve uma summer school na unicamp precisamente, a 2014, acho eu, que foi organizada pelo Dr. Marko Monteiro, entre outros professores. E foi minha 1a visita ao Brasil e foi nesse contexto que conheci um pessoal tão bom, mas tão bom, tão maravilhoso, que fazia coisas tão interessantes com citizen science, com ciência voltada para a comunidade. Conheci nessa viagem o pessoal envolvido no garoa hacker space em São Paulo, que nessa época fazia coisas incríveis. Isso meio que deu uma volta nos meus projetos e na minha cabeça e voltei assim com uma série de interesses novos e numa discussão com meu orientador, conversando sobre isso, ele meio que me desafiou “então, mas que tal um projeto diferente do que você fez no mestrado? Explorar um outro tópico?”. E foi assim que o projeto se direcionou para questões de produção de tecnologia.
[tom]
YAMA (em off): Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia é um campo interdisciplinar do conhecimento, que se esforça em combinar o conhecimento de várias disciplinas para avaliar, em conjunto, como sociedade e ciência ou como a política e o conhecimento científico estão entrelaçados.
[tom]
YAMA: Dentre muitas possibilidades para pesquisar a produção de tecnologia no Brasil você acabou escolhendo São Paulo.
LILIANA: Devo também dizer que fiz alguma pesquisa em Manaus, na zona franca de Manaus, fiz pesquisa no Rio de Janeiro. Até teve um momento que, devo confessar, que achei que ia fazer mais trabalho no Complexo do Alemão, onde passei um mês numa colaboração com uma organização que era o Barraco 55. E foi muito duro. E depois dessa experiência eu entendi que não ia conseguir fazer essa pesquisa dessa forma, por uma série de motivos. E São Paulo acolheu-me… enfim, nós sabemos porque não é? Foi mais fácil viver em São Paulo e circular em São Paulo.
YAMA: Além dessas questões práticas, o que havia na cidade de São Paulo que te fez achar ser mais interessante para sua pesquisa?
LILIANA: Tem muita tecnologia, não é? E tem esse imaginário pós-industrial que pra mim é muito familiar, tem a ver com o contexto que eu cresci em Portugal, que é na periferia de Lisboa, periferia sul de Lisboa, que era a zona mais industrializada do país (deixou de ser). E um pouco, a razão pela qual meus avós se mudaram para lá nos anos 50 e 60. Então tinha essa coisa meio familiar e eu tenho um carinho muito especial por cidades que tiveram trajetória e tem esse tipo de cultura.
YAMA: Mas a cidade de São Paulo é gigante e tem muitas possibilidades pra se pesquisar a produção de tecnologia. Como você acabou fazendo campo no Santa Ifigênia?
LILIANA: Eu conheci através do pessoal que trabalhava no FabLab Livre, que ia a Santa Ifigênia comprar componentes e materiais. Então o Santa Ifigênia surgiu aí, uma primeira vez. Depois, mais tarde, numa conversa com o colega Dr. Carlos Freire, que agora dá aulas, acho que em Belém. Ele é que mencionou a Prime. Nessa época eu comentei com ele “ah eu gostaria de fazer mais trabalho sobre o bairro, acho esse bairro superinteressante, sei que tem toda uma história de eletrônicos, tem todas essas camadas”. E ele é que me falou da escola de reparos que acabei estudando.
YAMA (off, explicativo): Uma pequena explicação. A prime que a professora acabou de citar, é o nome fictício que ela deu para a escola de reparos que fica em Santa Ifigênia e que ela pesquisou de perto. A gente conversa especificamente sobre a escola no segundo episódio. Dar nomes fictícios a pessoas e lugares pesquisados por etnografia é uma prática comum entre antropólogos e antropólogas para minimizar os potenciais impactos da pesquisa na vida cotidiana dos colaboradores. Mas agora, voltando à conversa.
YAMA: Como foi para uma estrangeira ir ao bairro pela primeira vez?
LILIANA: É um caos, não é? Carros, vendedores de bolo, facas, lojas de eletrônicos, muitos CCTV, sistemas de segurança, vários moços meio que te chamando pra comprar isto e ver aquilo, cê tá interessado nisto? Toda uma ecologia urbana (risos) intensa, não é?
YAMA: Percebiam de cara que era Portuguesa?
LILIANA: Sou portuguesa mas enquanto estou calada ninguém sabe, então não chamo muita atenção. Aliás, tenho histórias sobre o sotaque também muito engraçadas, de as pessoas não saberem identificar. Ah, seu portugues é tão bom, você vem da Colômbia? Do Uruguai? Então não é facilmente identificável. (…)
Mas com o Santa Ifigênia era pra mim esse espaço de muito ebulição, claramente muita coisa acontecendo, é difícil ler… porque ao mesmo tempo os prédios são um pouco degradados, não é fácil entender o que está dentro desses edifícios. As galerias, pois tem uma lojinha, e eu escrevi sobre isso na tese de doutorado, tem uma lojinha que ta lá uma senhora vendendo componentes eletrônicos desde 1965, sei lá. E tem muita coisa acontecendo que se você não passar um tempo no bairro e conhecer o bairro, não sabe que está lá. E eu acho que fiquei muito encantada com, por um lado, essa superfície de caos e muita coisa acontecendo e depois conhecendo essas camadas, abrindo e estudando sobre o bairro e percebendo que há dezenas, há muito tempo e muitas camadas de diferentes negócios, e o fato de que ficou focado em eletrônicos muito interessante. (…) E também um espaço democrático, é um espaço onde muita gente que não consegue um celular vai lá e consegue, um tablet. Tem esse lado democratizante.
YAMA: Santa Ifigênia já teve um enfoque maior na produção, mas hoje, pelo menos na superfície, o que se vê mais é a venda. O que ficou de produção de tecnologia por ali?
LILIANA: (…) Eu acho que o mais próximo que tem de produção é reparo e nós podemos considerar o reparo como uma forma de produção de tecnologia, mas é, neste momento, um bairro com venda de eletrônicos de muitos tipos, seja celulares, seja tablets, seja sistemas de vigilância tipo CCTV. Tem também muitas componentes, então pequenas partes que você pode comprar para reparar ou para montar os seus eletrônicos. Tudo isto novo e usado. Então tem, sim, partes importadas, sejam da China, depois tem toda uma discussão sobre o que vem através do Paraguai, que provavelmente são cópias. Também tem material importado de formas mais ortodoxas e depois tem material usado, também adquirido de várias formas. Inclusive, lembro-me que uma das formas de aquisição de componentes era através de… Era umas famílias que compravam bens, não sei se era a polícia federal, mas basicamente bens confiscados que são comprados em monte e depois desmontados e revendidos. Então tem de tudo. Tem vendedores de rua, camelôs, mas tem muita lojinha também mais formal, outro tipo de negócio. E, sobretudo, dentro desses prédios, desses edifícios mais antigos, que por fora parece que não têm nada, você entra e são galerias imensas de pessoal vendendo coisas, fazendo reparos, etc. Então é um misto. Há o bairro visto a partir da rua e há o bairro visto por dentro desses edifícios, que às vezes são difíceis até de circular lá dentro. Então uma das estratégias que eu tinha durante a pesquisa, eu às vezes contactava pessoas para irem comigo, tipo usuários que conheciam bem Santa Ifigênia e nós íamos passear juntos pelo bairro e pelas lojinhas.
YAMA: Você falou algo interessante que a diferença do bairro visto de fora de dentro dos edifícios. Dentro dos edifícios seriam os labirintos de boxes que você cita no artigo?
LILIANA: Sim, é sobretudo boxes dentro das galerias. Sim, sobretudo boxes. Sim, são espaços que são divididos e subdivididos e sub-sub-sub-subdivididos e subalugados.
[tom]
YAMA (em off): Foi nessa parte da conversa que eu perguntei pra Liliana sobre algo que é central no artigo dela… um termo que me chamou atenção desde início e que ela usa pra descrever o que ela viu em campo… ecologia do reparo.
[tom]
YAMA: O que é que você está chamando de ecologia do reparo? Se isso é um termo que surgiu com sua pesquisa ou se é um termo corrente na literatura, você pode falar um pouco sobre isso?
LILIANA: Sim, eu acho que não é um tema corrente da literatura. A razão pela qual eu puxei esse termo de ecologia é porque de fato o reparo para acontecer depende de todo um ecossistema. Não existe reparo ou é difícil ter reparo sem haver uma ecologia e um ecossistema que sustente esse reparo, seja através de materiais, seja através de equipamentos, seja através de contactos, seja através de conhecimento. E o conhecimento às vezes até é parte mais difícil de conseguir adquirir e obter porque vivemos numa sociedade em que os rapazes são ensinados desde pequeninos a gostar de eletrônicos e de fazer reparos e a pensar sobre eles próprios como seres técnicos e as meninas não. Eu acho que isso cria uma série de obstáculos.
YAMA: Aham
(pausa)
LILIANA: Mas a ecologia do reparo tem que ver mesmo com esta ideia de que o reparo depende de um ecossistema, depende de uma série de outras coisas acontecendo à sua volta para permitir que o reparo aconteça. E eu acho que Santa Ifigênia é de facto uma ecologia do reparo comparada ao lugar, sei lá, como Silicon Valley, enfim, também terá o seu reparo, mas se viveres num ecossistema que policia muito o reparo e não providencia os equipamentos, o conhecimento para renovar eletrônicos, o reparo não vai acontecer. Uma das coisas que eu falo muito no artigo é a importância das networks. Um dos motivos pelos quais as pessoas procuravam a escola que eu estudei é porque entravam na network de fornecedores, de equipamento e isso são redes muito difíceis de entrares, nas quais entrares. Então era nesse sentido, a ecologia do reparo. E claro, justamente, é o lado da ecologia, quanto mais repararmos, não é? Há um lado benéfico, mas sim, achei que era apropriado a noção da ecologia.
[tom]
YAMA (em off): Numa cultura econômica pautada pela obsolescência programada, as práticas de reparo se tornam práticas de resistência. Tornam o acesso à tecnologia possível para as pessoas de menor poder aquisitivo e, em sua devida proporção, reage aos planos das grandes empresas de tecnologia ao prolongar o tempo de vida dos eletrônicos, o que, por si só, dá uma dimensão ambiental para o termo ecologia. Reconhecer o Santa Ifigênia como o local de uma ecologia do reparo é resgatar uma dimensão invisibilizada do bairro e que reconhece sua importância social, cultural e econômica. E, porque não?, até mesmo ambiental.
[tom]
LILIANA: Santa Efigênia é quase… Estou a pensar agora num buraco negro com metáfora, mas talvez não seja a melhor. Mas é muito condensada, não é? É a sensação que você está num espaço que condensa todos esses elementos do ecossistema de uma forma que talvez não encontre noutros lugares com facilidade. (…) Acho que ninguém olha para Santa Ifigênia com esse carinho. Ninguém olha para Santa Ifigênia como… ou pouca gente reconhece aquele espaço como um espaço de produção de tecnologia. E acho que é parte do meu trabalho tentar puxar contra isso e tentar mostrar. Não, puxa, tipo… Sim, talvez não seja shiny, já não é aquela coisa que foi há anos atrás, mas continua produzindo tecnologia e tem essa genealogia. E é importante que a gente valide e reconheça o trabalho destas pessoas como produtores de tecnologia também
YAMA: Mudando um pouco de assunto agora… como todo espaço nos centros urbanos, Santa Ifigênia guarda contradições, diversidade e diferenças. Vou começar te perguntando sobre questões raciais. Você me disse que mais cedo que há uma história da presença negra do local que é um pouco esquecida, apagada.
LILIANA: Há toda uma série de trabalhos que está sendo feito agora sobre territórios negros em São Paulo. O Instituto Bixiga está fazendo alguma pesquisa sobre o passado negro de Santa Ifigênia, que é algo que eu não conheço, porque é muito ligado à igreja. E então essas camadas é um bairro de eletrônicos com muita história, mas essa história vai assim ainda mais profundamente no tempo e tem todas essas dimensões que o centro de uma cidade como São Paulo tem.
YAMA: Você percebeu esse componente racial do Santa Ifigênia de hoje?
Eu não… sim, não. Eu vi muitos imigrantes e percebo essa componente racial. Há claramente uma divisão de trabalho, não é? Aqueles que trabalham na rua, aqueles que trabalham em lojas, os donos de lojas, que normalmente são brancos ou que serão, enfim, de origem imigrante, mas…Então, sim, eu acho que é também um microcosmos daquilo que é São Paulo, não é? Está lá.
YAMA: Na sua pesquisa você comenta em vários momentos como importavam as diferenças de gênero no bairro. Isso tanto no fato de você como antropóloga pesquisando num lugar predominantemente masculino, como nas próprias organizações locais. O que você pode nos dizer sobre as diferenças de gênero no Santa Ifigênia?
LILIANA: É assim, em geral estes espaços são muito masculinos e sobretudo na sua primeira aparência, não é? Na rua, são espaços muito masculinos os lojistas, as pessoas que estão na rua chamando clientes, há todo um… é um espaço que parece muito masculino. O que eu acho… o que eu aprendi com o tempo é que existem mulheres, mas elas talvez não estejam nos lugares mais óbvios ou não seja tão fácil de encontrar. Eu tive um momento em que eu precisei de soldar um fone que estava estragado e pensei, bem, vou a Santa Ifigênia resolver este problema, vai servir de pesquisa de campo e de coisa útil para fazer. Falei com um amigo interlocutor que conhecia bem Santa Ifigênia, fomos juntos, e ninguém queria soldar o meu fone porque era um trabalho muito minucioso e difícil. Falavam de uma tal de Priscila, tem que ir à Priscila, tem que ir à Priscila, falem com a Priscila que ela resolve. Bem, a Priscila foi dificílima de encontrar, mas a Priscila é uma mulher que faz reparo em Santa Efigênia. Estava numa box, numa galeria, parecia um labirinto, mas ela está lá e está a trabalhar, inclusive tinha mais mulher na equipa dela, na box dela. Então, as mulheres estão presentes, mas talvez não sejam nos lugares mais óbvios, talvez não sejam da forma mais pública, e o espaço enquanto mulher a fazer pesquisa às vezes se intimidava, não é?
YAMA: Você se sentia intimidada enquanto pesquisadora fazendo campo por lá?
LILIANA: Eu parto sempre, eu nunca penso muito nessas questões até me sentir intimidada. Não parto do princípio que vai ser difícil por ser mulher, nem… aliás, a minha pesquisa é sobre tecnologia e estou perfeitamente habituada em estar em espaços muito masculinos, infelizmente é assim que acontece, mas às vezes era, sim, era duro e, sobretudo, fazer entrevistas com pessoas. Eu sentia que às vezes, sabes, mulher, portuguesa, era um bocadinho difícil, era difícil estabelecer contacto, era difícil manter a conversa, sentia muitas vezes que me sentia um bocadinho minorizada, não é? E embora eu às vezes utilize essa estratégia, porque acho que para falar de tecnologia muitas vezes até dá jeito fazermos um pouco de burros para conseguir ter as conversas, nesse contexto de Santa Ifigênia às vezes foi muito difícil.
YAMA: E na escola de reparo que você pesquisou mais de perto, era a mesma situação?
LILIANA: O que eu encontrei nessa escola de reparo foi um espaço muito mais amigável para mulheres, não é? Muito mais acolhedor para pessoas que não são as pessoas típicas que frequentam o bairro.
[tom]
YAMA: Vou interromper a nossa conversa um pouquinho agora. Agora que já temos alguma dimensão do que seja o Santa Ifigênia e que sabemos que há uma ecologia do reparo no local, seguimos para a segunda parte desta entrevista, onde olhamos em detalhe para a Prime, a escola de reparos de celulares onde a Liliana pesquisou, mas também frequentou como aluna.
[baixo]
[começa Documentary]
Este episódio foi roteirizado e produzido por mim, Yama Chiodi. A revisão foi da coordenadora do Oxigênio, Simone Pallone. Se você quiser ler o artigo completo escrito pela Dra. Liliana Gil, em inglês, deixo um link para o pdf na descrição.
A edição do áudio foi feita por *****. . O Oxigênio é um podcast produzido pelos alunos do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e colaboradores externos. Tem parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e apoio do Serviço de Auxílio ao Estudante, da Unicamp. Além disso, contamos com o apoio da FAPESP, que financia bolsas como a que me apoia neste projeto de divulgação do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o GEICT.
A lista completa de créditos para os sons e músicas utilizados você encontra na descrição do episódio.
Você encontra todos os episódios no site oxigenio.comciencia.br e na sua plataforma preferida. No Instagram e no Facebook você nos encontra como Oxigênio Podcast. Segue lá pra não perder nenhum episódio! Aproveite para deixar um comentário.
[Termina Documentary]
Aerial foi composta por Bio Unit; Documentary por Coma-Media. Ambas sob licença Creative Commons.
Os sons de rolha e os loops de baixo são da biblioteca de loops do Garage Band.
A reportagem de Celso Russomanno citada está disponível na íntegra no canal dele no Youtube, no link: https://www.youtube.com/watch?v=AOGyS7VRGI4
Para ler o artigo da professora entrevistada na íntegra, basta acessar o link: https://drive.google.com/file/d/100tviO-2c1z7mhzMLYX8ghXrxs2jNXYJ/view?usp=sharing
16 May 2024, 7:10 pm - #175 – O fascinante mundo dos dinossauros
O que leva ao fascínio pelos dinossauros? Crianças adoram esses animais, conhecem seus nomes, hábitos alimentares mas, conforme crescem, vão perdendo esse interesse. Pelo menos a maioria. Conversamos com a bióloga Carolina Zabini e com a psicóloga Ana Paula Machado de Campos, para entender as questões que envolvem desde o estímulo, papel dos pais, da escola e da mídia, até o desenvolvimento intelectual, que mobiliza a criança para outros temas e desafios.
_________________________________________
Roteiro:
Virei a página e soltei uma exclamação surpresa. Era o retrato em página inteira de uma criatura extraordinária que eu jamais tinha visto, o sonho selvagem de um usuário de ópio, uma visão delirante. Tinha a cabeça parecida com a de uma galinha, o corpo de um lagarto inchado, uma cauda longa e equipada com placas pontiagudas viradas para cima e as costas recurvadas eram contornadas por uma franja alta serrilhada, que parecia uma fila de uma dúzia de cristas colocadas umas atrás das outras. Na frente dessa criatura havia um bonequinho absurdo, um anão, em forma humana, olhando para o animal.
– Muito bem, o que acha disso? – gritou o professor Challenger, esfregando as mãos com ar triunfante.
– É monstruoso, grotesco.
– Mas o que o fez desenhar um animal assim?
– Estava sob influência de muito gim, eu acho.
– Ora, essa é a melhor explicação que você consegue dar?
– Bem, senhor, qual seria a sua?
Quase caí na risada, mas tive a visão de que sairíamos outra vez rodopiando pelo corredor.
Thiago Ribeiro: Esse é um trecho do livro “O mundo perdido” de Arthur Conan Doyle, publicado pela primeira vez em 1912. Provavelmente, inspirado nas aventuras de seu amigo, Percy Fawcett, Doyle conta a história de uma expedição a um platô, localizado na bacia Amazônica, onde animais pré-históricos como dinossauros e outras criaturas extintas teriam, supostamente, conseguido sobreviver aos grandes eventos de extinção do passado.
Mariana Zilli: O romance é um marco na literatura mundial e inspirou diversas obras de ficção como “Plutonia” de Vladmir Obruchev e “A terra que o tempo esqueceu” de Edgar Rice Burroughts. Esses também, por sua vez, geraram uma infinidade de filmes e séries que resgatam seus elementos e sua narrativa de um local remoto, onde seres pré-históricos de grande porte supostamente teriam sobrevivido e poderiam então ser imaginados convivendo com os seres humanos.
Thiago: Da icônica franquia de Indiana Jones, passando por clássicos como King Kong e Jurassic Park, até a famosa série estadunidense de televisão “Lost”, todas usam elementos desse enredo e têm mexido com o imaginário das pessoas ao longo de gerações.
Mariana: Mas… Qual a origem do fascínio por dinossauros, que vemos especialmente nas crianças? Como e quando diminui essa curiosa mistura de terror e excitação, que muitos de nós sentimos por esses animais? E por que, mesmo depois de adultos, eles ainda continuam a nos encantar?
Meu nome é Mariana Zilli.Thiago: E eu sou Thiago Ribeiro. Vamos juntos nos aventurar nesse universo dos dinossauros, que permeia o imaginário de crianças e adultos, na busca de respostas sobre sua natureza.
Ana Paula Franco Machado de Campos: É interessante a gente pensar sobre esse assunto, né? Eu até fiquei elaborando que forma ou que palavra, que conceito seria. Se é o fascínio, se é a descoberta, se é o interesse, da criança pelo dinossauro. Até a curiosidade de como procurar por esse assunto foi interessante, né? É diferente você falar em fascínio, você falar interesse, de você falar motivação. O que leva, então, essas crianças pensarem ou ter interesse sobre o dinossauro?
Thiago: Essa é a Ana Paula Franco Machado de Campos. Ela é professora graduada em Psicologia pela USP e possui especialização em Psicologia Escolar e problemas de aprendizagem pela PUC CAMPINAS. Desde o início da sua carreira, a Ana Paula tem se voltado para a psicologia escolar, área pela qual demonstra muito carinho.
Mariana: Ana Paula, você se lembra de ter passado por alguma fase na infância que tenha demonstrado esse interesse hiper focado em dinossauros? Ou conhece alguém ou tem familiares aficionados por essas criaturas?
Ana Paula: Eu, particularmente não, né? Tenho sobrinhos que têm, eles brincam. Têm os bonecos. Mas não faz parte desse fascínio. A gente sabe de crianças que realmente sim, conhece os nomes, a alimentação, como é que eram. O que eu acho interessante de trazer para nossa fala, para a nossa conversa, é a gente pensar o quanto a escola está contribuindo ou não para isso, né?
Mariana: Em um trabalho de 2008, publicado na revista Cognitive Development, envolvendo a parceria das Universidades de Indiana e do Wisconsin, os pesquisadores acompanharam o comportamento de 215 crianças de 4 anos ao longo de 2 anos para analisar a intensidade e duração dos interesses relacionados ao domínio conceitual em crianças pequenas. Dentre os principais resultados, foi possível detectar que cerca de 40% das crianças mantêm interesse em domínios conceituais durante parte do período pré-escolar.
Thiago: Sim. Domínio conceitual, que pode ser explicado como sendo o conjunto de conhecimentos que representa as explicações científicas sobre o mundo natural. Em outras palavras, seria como teorias, princípios, leis, ideias são usados para raciocinar com e sobre o tema que se estuda. Já os domínios considerados como não-conceituais podem incluir desde atividades manuais como colagens e pinturas, habilidades de leitura e escrita, prática de esportes, assistir televisão ou ainda a participação em jogos com regras estabelecidas.
Mariana: Então, se a criança domina informações sobre os nomes científicos dos dinossauros, seus hábitos de vida ou até mesmo o período e região que viveram, estamos nos referindo ao seu interesse em apreender, conceitualmente, essas informações?
Thiago: Isso mesmo! O mais interessante é que o trabalho demonstra uma clara diminuição desse tipo de interesse após a transição para a escolaridade formal. Já o interesse focado em domínios não-conceituais não demonstraram tanta queda.
Mariana: Nossa! Isso é realmente interessante. Mas, o estudo mostrou por que isso acontece?
Thiago: De acordo com os pesquisadores, as crianças com interesses conceituais podem se encontrar em um dilema no início da vida escolar. Elas podem estar muito interessadas em um domínio específico como, por exemplo, dinossauros, carros ou cavalos e estarem acostumadas a receber suporte individualizado sobre o tema de interesse. Geralmente dos pais ou professores da pré-escola. Os interesses conceituais são dos poucos interesses da primeira infância, onde uma criança tende a confiar nos pais ou em outras pessoas mais velhas para fornecer uma quantidade significativa de informações relevantes.
Mariana: Hum… entendi. O ensino fundamental envolve mais crianças na sala, objetivos curriculares mais rigorosos, aumento de tarefas, além do estímulo voltado para atividades sociais. E aí sobra pouco tempo para que as crianças façam perguntas relacionadas aos seus interesses particulares e recebam respostas individualizadas.
Thiago: Pois é. Ainda, crianças pequenas com hiper foco em interesses conceituais particulares também podem experimentar novas pressões sociais à medida que começam a fazer amizades na escola primária. Os amigos são uma importante fonte de apoio social e as amizades, geralmente, são baseadas em um terreno comum. As outras crianças podem não estar muito interessadas em sapos, cavalos ou dinossauros. Assim, as crianças podem deixar de demonstrar, intencionalmente, seus interesses e conhecimentos para cultivar amizades em desenvolvimento.
Mariana: Eu ainda não tinha parado para pensar nesse dilema das crianças. Faz bastante sentido, mas podem ter outros fatos envolvidos, certo? Como que o contexto escolar pode estar atuando na formação das crianças nesse sentido, Ana Paula?
Ana Paula: Na Educação Infantil existe essa essa vontade, né essa curiosidade. De exploração, de conhecer, de buscar, de ter a dúvida. A gente vê isso muito na criança como uma ferramenta que eles têm para conhecer o mundo.
E eu vejo muito a escola fazendo movimento, exatamente, o contrário, né? Trazendo muito mais a questão do conhecimento pronto e o quanto o pensar sobre aquilo que está sendo trazido para elas, enquanto questão mesmo, enquanto o conhecimento, enquanto exploração do nosso contexto, da nossa cultura, do que a gente faz parte, não está ali para eles, né?Helena Barbosa: Meu nome é Helena Mariana Barbosa.
Moyra, mãe da Helena: Quantos anos você tem? Seis aí por que você gosta de dinossauros?
Helena: Eu gosto de dinossauros, porque eu não gosto de bonecas. Esse é meu Tiranossauro Rex, o tirano “raw raw raw”.
Moyra: E você sabe o nome de outros dinossauros?
Helena: Sim. braquiossauro, estegossauro.
Thiago: E você, Carol. Não se lembra de ter essa paixão por dinossauros, esse encantamento, na infância?
Carolina Zabini: Na infância, não. Especificamente por dinossauros não. Eu me lembro que eu gostava muito da parte assim de observar a natureza e coletar rochas e minerais. Então, eu me lembro de ter uma coleção de pedras, né. Eu chamava de pedras na época. Agora, eu até me sinto estranha falando pedras, uma coleção de rochas, e talvez isso tenha me levado para essa área. Eu entendo que as crianças gostam muito da natureza e eu acho que, nessa visão, eu também gostava muito de tentar entender o meio ambiente, né?
Thiago: Essa é a Carolina Zabini, ela é professora do Instituto de Geociências da Unicamp, no Departamento de Geologia e Recursos Naturais. Sua principal linha de pesquisa envolve o estudo de bacias sedimentares, desenvolvendo trabalhos na área da paleontologia. A Carolina também tem realizado um trabalho de divulgação científica, coordenando o Programa Tempo Profundo. A ideia é divulgar as Geociências, a partir de ações online e presenciais através de lives, oficinas online e presenciais, postagens nas redes sociais, sorteios e exposições científicas.
Mariana: As rochas sedimentares são um tipo muito especial de rocha. Nelas também podem se acumular restos de seres vivos que habitavam essas regiões durante um passado muito distante. Com o passar do tempo (na escala dos milhões de anos) esses restos podem ser encontrados e analisados por pesquisadores como a Carolina. O estudo desses restos de vida impressos nas rochas pertence ao que é chamado de Paleontologia que inclui, por exemplo, a análise dos fósseis e vestígios desses seres vivos.
Thiago: Uma dessas exposições organizadas pela Carolina, que recebeu o nome de “Dinossauros (?)” e foi realizada em 2018 no Instituto de Geociências da UNICAMP. Além do sucesso com o público, a exposição rendeu a produção de um trabalho de mestrado. Nesse trabalho, o Rafael Ribeiro, que foi orientado pela Carol, buscou entender como a exposição poderia contribuir, como estímulo, para a aprendizagem dos visitantes sobre paleontologia.
Mariana: A exposição foi organizada em colaboração com o professor Luiz Eduardo Anelli, da USP, que cedeu sua coleção de modelos de dinossauros para que a Carolina levasse para a Unicamp. O Museu Exploratório de Ciências da Unicamp também participou, especialmente nas monitorias. Inicialmente focada em perguntas abertas para estimular discussões, a abordagem foi adaptada para oferecer respostas cientificamente embasadas, visando atender, principalmente, estudantes em fase escolar.
Carolina: Para que servem os chifres, por exemplo, né? Defesa ou ataque? A gente pegou um artista para representar aquelas características que a gente queria nos banners, que vinham associados aos bonequinhos, e aí o próprio desenho e a pergunta se somavam para instigar o visitante, né? Então as crianças e os seus pais chegavam e eram instigados por aquela pergunta. Para que serve essa estrutura? Ou então, você consegue enxergar alguma semelhança entre o conjunto de dinossauros que tem aqui? Uma das perguntas que a gente fazia também: Será que todo mundo que está exposto aqui, é dinossauro? Porque tem muito essa coisa de tudo que é antigo e parece um lagarto todo mundo fala que é dinossauro e não é assim, né?
Mariana: Além dessa clássica confusão, muitas vezes, os dinossauros também são, de alguma forma, associados à ideia de obsolescência, antiquado, inapto ou até mesmo, falho. Quando alguém se refere a uma pessoa como “um dinossauro”, essa expressão informal, geralmente está associada à ideia de Antiguidade ou Experiência: uma maneira de reconhecer a longa experiência ou antiguidade dessa pessoa em uma determinada área.
Thiago: Junto com a confusão que se faz ao incluir outros répteis como mosassauros, pterossauros e crocodilos como todos sendo do grupo dos dinossauros, a ideia de que sua extinção teria sido uma consequência de inabilidade para se adaptar às transformações nas condições ambientais, talvez sejam os equívocos mais marcantes sobre os dinossauros.
Mariana: Não existe uma interpretação científica amplamente aceita que caracterize os dinossauros como estúpidos ou desajeitados como uma explicação para sua extinção. Essas características são geralmente consideradas simplificações ou estereótipos imprecisos. A ciência paleontológica trata os dinossauros como animais adaptados ao seu ambiente, bem-sucedidos em suas épocas específicas. No entanto, ao longo da história, especialmente antes dos avanços significativos na compreensão da paleontologia e da biologia evolutiva, algumas representações populares ou culturais dos dinossauros podem ter exagerado características como a estupidez ou o desajeitamento. Essas interpretações são agora consideradas desatualizadas e imprecisas.
Carolina: Então, acho que isso também é interessante, que a gente mostrou um pouco naquela exposição, que é a evolução de como a gente interpretava a forma externa, a aparência dos dinossauros, de sei lá 50 anos para cá, se a gente olhar as reconstruções os dinossauros pareciam grandes lagartos. Inclusive nas suas formas de se movimentar, do habitat em que eles viviam. Então, eles tinham aquela aparência mais monótona, uma cor só, com aquela pele, com aquela textura de jacaré mesmo e os muito grandes estavam sempre dentro de lagos, porque se imaginava que eles eram tão imensos que eles não conseguiriam suportar o próprio peso do corpo, né?
Thiago: A palavra dinossauro tem origem em duas palavras no idioma grego “deinos” “sauros” que pode ser traduzido como lagarto feroz, ou lagarto terrível. No latim, utilizado pela comunidade científica, o grupo que envolve esses seres recebeu o nome “Dinosauria”. Por mais de 160 milhões de anos, esse foi o grupo de animais dominantes em nosso planeta. Um exemplo de sucesso ao se adaptar e sobreviver ao longo de tanto tempo. Para se ter uma comparação, os hominídeos, grupo ao qual os seres humanos fazem parte, surgiram apenas há cerca de 3,5 milhões de anos.
Mariana: É compreensível que dinossauros sejam associados a outros répteis como crocodilos e pterossauros. Os três compartilham características em comum como o fato de botarem ovos e possuírem a pele de aspecto escamoso. Estão todos, inclusive, dentro de um grupo maior, representado pelos arcossauros. No entanto, hoje sabemos que agrupar todos como dinossauros é um equívoco. Aqui ouvimos a Carolina novamente.
Carolina: tem um livrinho. Que que mostra isso também, se você precisar essas aparências essas cores eram todas meios cinzas todo todos meio apáticos e, de Jurassic Park digamos para cá, né? Lógico, na ciência um pouco antes mas, o que aparece na cultura pop, já marca do primeiro filme para cá, os dinossauros aparecem como? Coloridos, ágeis inteligentes, né com penas. Então, toda essa mudança também foi uma mudança científica. Num primeiro momento, o grupo Dinossauria era interpretado como mais aparentado realmente com crocodilos, jacarés e afins. E hoje, não. A gente sabe que eles são um ramo diferente.
Thiago: Talvez o fóssil mais famoso do mundo seja o do Archaeopteryx. Diferentemente dos demais esqueletos de dinossauros escavados até então, este demonstrava que seu corpo era coberto por penas. Essa evidência, além de comprovar um parentesco evolutivo entre aves e répteis, também trazia um elemento chave que reforçava a explicação da origem e diversidade dos seres vivos trazida por Charles Darwin no livro Origem das Espécies, publicado apenas dois anos antes da descoberta do Archaeopteryx.
Mariana: A primeira publicação de Origem das espécies foi em 1859 e a descoberta do fóssil em 1861, mas a discussão em torno dessa ancestralidade das aves enquanto dinossauros emplumados durou décadas na comunidade científica. Nós vemos o reflexo desse debate no primeiro filme da franquia Jurassic Park, de 1993, quando o Dr. Grant, ao analisar um fóssil de velociraptor, é ridicularizado ao mencionar que estes aprenderam a voar.
Thiago: O caso só foi encerrado em 2008, em trabalho publicado na revista Science, quando as análises genéticas do poderoso tiranossauro rex comprovaram que ele tinha mais genes em comum com avestruzes do que com répteis atuais como os jacarés. A descoberta não foi uma novidade para os paleontólogos, já que o acúmulo de evidências fósseis dava confiança cada vez maior de que as aves eram descendentes de dinossauros carnívoros ou, como eles gostam de dizer, que as aves são efetivamente dinossauros vivos.
Carolina: Então, talvez as crianças de hoje, as mais novas, já não percebam dinossauros muito aparentados com lagartos, mas da minha geração ou um pouquinho antes, ainda acho que que existia uma ligação mais próxima né desses grupos.
Mariana: Realmente, é muito interessante pensar em como os dinossauros se apresentam para cada geração em função do avanço das interpretações científicas e suas representações pela cultura pop. E perguntamos à Carolina a que ela atribui todo esse interesse por dinossauros. É mais pela exposição, pelo contato com esses animais? Por exemplo, o mercado com a cinematografia, animações, a cultura pop, que possuem muitos produtos que estimulam as crianças ou, existe esse interesse próprio nas crianças, mais natural, e a cultura pop e o mercado entendem esse fascínio e aproveitam para explorá-lo?
Carolina: Sim. Acho que acho que os produtos estão aí porque as crianças realmente gostam, né? Mas a minha opinião particular é que a criança gosta de entender o mundo. Então, se ela tem mais contato com a natureza, então ela vai querer entender essa natureza. E quando a gente é pequeno, a gente não tem aquela impressão de que o tempo passa diferente? Que tudo passa mais devagar? Pra mim, é porque a quantidade de coisas que a gente aprende todo dia é muito grande, né? Mas acho que num primeiro contato, o que impressiona é realmente o tamanho deles, né, a forma diferente do que a gente tem disponível, e o fato deles serem reais, né? Eles não estão convivendo com a gente hoje na forma como eles eram. Mas eles existiram.
Simone Pallone: Eles ainda existem?
Pedro: Não!
Simone: Não? Por que eles não existem mais, você sabe?
Rafael: Porque eles já foram extintos?
Simone: Já foram extintos, é? E se eles ainda existissem, você ia gostar?
Rafael: Não!
Simone: Não? E você, Pedro? Você gostaria que ainda existissem os dinossauros?
Pedro: Hã, hã! Não!
Simone: Não? Por quê?
Pedro: Por que eles são muito perigosos!
Thiago: E para você, Ana Paula? Em que medida a gente pode pensar que esse interesse é mais estimulado pela mídia e pelo mercado de brinquedos, por exemplo, ou isso é, de fato, uma coisa da infância mesmo?
Ana Paula: É, eu acho que são essas duas possibilidades, né? Existe a motivação para aprender coisas novas ou mesmo motivação para aprender sobre onde que a gente está, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E aí entra o dinossauro. E é um passado muito distante, né? E inclusive não existindo mais, né? Como é que eu consigo imaginar possibilidades de alguma coisa que aconteceu no passado muito distante a partir do que a gente tem hoje como vestígios que ficaram desse passado? Então, é um olhar investigativo e provocativo muitas vezes, onde você trabalha assim com o real, mas você trabalha com imaginário muito forte, né?
Helena: O triceratops também é herbívoro, mas o Tiranossauro Rex vem e come ele, né?
Moyra: Os dinossauros ainda existem?
Helena: Não. Eu sou Tiranossauro Rex, ele é muito legal. Tiranossauro Rex.
Moyra: E você gostaria que eles existissem?
Helena: Sim.
Mariana: Geralmente, esses interesses acabam sendo mais reforçados pela família. Quando nos colocamos na posição de questionadores, demonstrando interesse e perguntando o nome desses dinossauros e seus hábitos, ou ainda, o nome dos veículos e suas funções, colocamos a criança no lugar de portadora daquele conhecimento. Um papel de protagonismo, como autoridade no assunto, e isso é muito poderoso.
Thiago: Além da categoria de interesse focada em questões conceituais, como no caso dos dinossauros, nomeando cientificamente, descrevendo suas dietas e demonstrando suas diferenças comportamentais, o trabalho dos pesquisadores da universidade de Indiana e do Wisconsin identificou que as crianças pesquisadas também costumam encenar aventuras de simulação com seus pequenos dinossauros e outros animais de plástico.
Mariana: De fato, essas encenações, denominadas como sociodramáticas, representaram maior frequência ao longo dos dois anos da pesquisa. Nessas atividades, as crianças criam um cenário onde simulam uma aventura e ela própria atua, dando vida a cada um dos seus personagens. Algo como um teatro de fantoches.
Carolina: Eles não estão convivendo com a gente hoje, na forma como eles eram, mas eles existiram. Então você consegue imaginar, no Imaginário da criança, o que é isso, um dinossauro gigantesco, vivendo no mundo, num passado longe mas, que realmente aconteceu, né? E aí, os dinossauros como eles são gigantescos, diversos, ferozes, eu acho que isso atrai muita atenção.
Thiago: Mas então você acredita, Carolina, que o fato deles serem enormes, ferozes, isso acaba atraindo as crianças? Por exemplo o leão, mesmo sendo uma fera, muitas vezes, não gera esse mesmo fascínio quanto os dinossauros.
Carolina: É por isso que o tiranossauro rex é tão famoso, né? Pelo tamanho dele e a quantidade de fósseis que eles já encontraram completos, né? Então, nesse sentido, eu acho que a criança gosta do que assusta. Do que traz aquele poder da imaginação, para para ela poder criar o que ela quiser, né. E, o dinossauro, o que a mídia passa muito é isso, né. De que eles são enormes, de que eles são ferozes o tempo todo. Então eu acho que é isso. O contato, né que as crianças têm deve vir mais da mídia do que dos museus, né das instituições de ensino de pesquisa. E aí acaba levando esse viés, né?
Thiago: Carol, você acredita que a criança, quando é colocada em em locais não-formais de ensino, como museus e exposições, isso estimula o interesse não só por dinossauros mas também por ciências em geral?
Carolina: Sim sim. Eu entendo que sim. Inclusive, hoje em dia a gente tá pensando muito na no ensino afetivo, né. Da gente trazer aquele apelo, de realmente emocionar. Trazer as emoções das crianças, enfim das pessoas.
Mariana: A Carolina também nos contou um pouco sobre uma pesquisa de mestrado desenvolvida em 2018 sobre como os temas apresentados pela exposição “Dinossauros (?)” estavam sendo interpretados pelas pessoas que visitavam o espaço, dando destaque para aqueles temas mais frequentes durante o roteiro. A gente gravou então algumas das visitas das escolas e a interação com o monitor. E aí, a gente percebeu que alguns dos temas que os monitores ou que as crianças traziam, não eram exatamente aqueles que a gente queria passar. Mas, mesmo assim existe uma aprendizagem, um processo de aprendizagem, no fato delas estarem naquele contexto, né? Então, só delas terem saído da escola, estarem conversando com os colegas sobre os temas. Esse processo eu acho que ele auxilia na pessoa compreender algum tema, quando ela vai atrás da informação depois né? Então ela tem um começo, né. Uma fagulha ali do conhecimento e é ela que vai criar as suas conexões depois.
Thiago: E como você avalia essas grandes exposições com dinossauros mecânicos, com efeitos sonoros e outros tantos recursos para atrair visitantes, geralmente em locais de maior circulação como shoppings? Muitas vezes elas são grandiosas mas que carecem de consultoria para trazer informações mais atualizadas, embasadas cientificamente.
Carolina: Se a gente pudesse atrelar, né? O que a gente tem de conhecimento científico em uma exposição com a visibilidade que essas têm. Porque, normalmente, elas são em locais que são muito visitados, né. em shoppings, algumas delas você não tem que pagar né? Então, se houvesse de fato, uma parceria, seria maravilhoso. Agora, da forma como algumas são montadas, é bastante questionável. Porque elas acabam misturando o imaginário, colocando dragões, né? Já vi umas com todos os tipos de personagens pop junto com dinossauros. Quer dizer, aí não tem valor científico nenhum, né? Aí, é mais para realmente a criança se divertir fisicamente no espaço.
Mariana: De fato, esses espaços não-formais são fundamentais para expor os estudantes a novos contextos de aprendizagem, estimulando a curiosidade e favorecendo o ensino através da troca de vivências. Daí a importância de expor as crianças, independente do seu estágio de desenvolvimento, a esses diferentes estímulos. Não é mesmo, Ana Paula?
Ana Paula: Eu posso estar num ambiente onde sim, eu sou estimulado. Onde sim, eu tenho contato com eh o conteúdo, por exemplo dinossauro, por exemplo, qualquer outro assunto. Eu tenho livros à minha disposição, eu tenho brinquedos, eu tenho jogos ou tem alguém que jogue comigo, tem alguém que leia para mim. Porque também não adianta você só ter o brinquedo e o livro e lá tudo maravilhoso para você e você não ter o adulto muitas vezes, né? Ou até uma outra criança ou mesmo professor não faz isso.
Mariana: Depois dessa fala da Ana Paula eu me peguei aqui pensando: “Eu gostava tanto de colecionar carros. Sabia o nome de todos os modelos, fabricantes. O que aconteceu?” “Quando foi que eu perdi o interesse nesse tema?”
Thiago: Não é raro que esse tipo de pensamento. E justamente quando estamos em um momento lúdico com as crianças, é mais comum que surjam lembranças de gostos que tínhamos quando criança.
Ana Paula: Mesmo até a fase adulta a gente perde muito esse espaço de prazer mesmo, sabe? De você fazer alguma coisa por prazer, de fazer alguma coisa porque você gosta, fazer alguma coisa que te traga um simbolismo qualquer, né? Prazer mesmo, e é um resgate, talvez, que a gente precisa ter. Nós adultos. Mas acredito que a gente voltando esse olhar mais para infância, a infância ser tratada como infância. O lugar em que a infância tem e a importância que a infância tem e a infância, que eu estou dizendo, até na fase da escolarização. Também são crianças. Que espaço está tendo a investigação? Que espaço que tem para a curiosidade? Que espaço que eu tenho para eu construir, para eu responder, pra eu buscar aquilo que eu tenho como motivação.
Mariana: A Ana também destaca como a entrada dos celulares no cotidiano das famílias tem influenciado no brincar, no imaginar, no faz-de-conta. Do quanto esse ambiente virtual pode estar tirando a possibilidade de interação e da simbolização no mundo real.
Ana Paula: Eu vi uma pesquisa que foi feita. E perguntou para as crianças, né, do que elas gostavam mais de brincar, qual era o brinquedo preferido não me lembro agora exatamente a porcentagem mas, mais da metade, é do celular, entendeu? Hoje, talvez, não sei, se a gente for perguntar para as nossas crianças o que você mais brinca. Até para o adulto, viu? Porque muitos pais, em escola, e essa é uma queixa assim frequente, super frequente, o quanto tempo eles ficam na com o celular. Inclusive não brinca mais. Inclusive não jogam mais tabuleiro.
Thiago: Então, Ana, um bom caminho seria criar mais espaços e momentos para as crianças demonstrarem suas habilidades nesses temas de interesse?
Ana Paula: É, na verdade, eu acho que a gente tem que abrir mais eh, eu falo que abrir janelas, né? Como um espaço para que esse esse saber científico, que a gente pode chamar de científico, né, ou essa curiosidade da descoberta, do fazer científico, tenha mais lugar dentro da escola.
Abrir possibilidades de exploração desse olhar científico, de interesse mesmo. E aí, acrescento, daquilo que é de interesse dos alunos. Que não só do nosso interesse. Então, de repente, o assunto dinossauro é um interesse deles, assim como outros que eles podem trazer. As crianças, principalmente nessa faixa, estão efetivamente sendo estimuladas a explorar, aquilo novo, aquilo que é de interesse delas,isso é muito legal. Vamos estudar sobre isso? Vamos descobrir mais sobre isso? Vamos entender melhor o que o dinossauro comia? Onde eles foram descobertos? Vamos descobrir isso juntos, né? Não já com a coisa pronta.
Mariana: Agora para finalizar. Ana, você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes?
Ana Paula: Eu acho que é um convite que eu queria fazer é esse a gente olhar pra pra gente mesmo, né? Como é que eu tô lidando com as crianças que estão ao meu redor? Que lugar, que espaço, que valor eu estou dando para o brincar, mesmo? Que valor eu estou dando para essa interação entre as crianças? Que lugar eu estou dando para essa interação entre as crianças e nós adultos? Eu ,adulto, quanto do meu tempo eu estou dispensando para isso, de fato, efetivamente, por brincar para o ler né?
Thiago: Bom, nós vamos ficando por aqui. Gostaríamos de deixar o nosso muito obrigado a todos vocês por nos ouvir e um agradecimento especial para a Helena e sua mamãe Moyra que nos presentearam com essa entrevista muito fofa. Também gosto muito de dinossauros, Helena! O meu favorito sempre vai ser o triceratops.
Mariana: Agradecemos também as outras crianças que ouvimos para fazer o episódio: o Pedro, o Rafael e o Pietro que estavam na exposição dos dinos e nos transmitiram todo esse medo e admiração de estarmos próximos desses fascinantes animais.
Thiago: Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Thiago Ribeiro. A revisão é da Simone Pallone, coordenadora do Oxigênio. Os trabalhos técnicos são da Carol Valentim Cabral e do Eyder Gomes Lopes, bolsistas do Serviço de Auxílio ao Estudante da Unicamp. A edição de áudio final, do Octavio Augusto Fonseca. A trilha sonora do Soundcloud e da Biblioteca de áudio do Youtube. A narração do trecho do livro de Connan Doyle foi feita pelo Yama Chiodi e pela Simone Pallone. O Oxigênio tem apoio da SEC – Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e do SAE – Serviço de Apoio ao Estudante. Você encontra todos os episódios no site oxigenio.comciencia.br e também na sua plataforma de podcasts preferida. Procure a gente nas redes sociais. No Instagram e no Facebook você nos encontra como Oxigênio Podcast. Segue lá pra não perder nenhum episódio e obrigado por escutar!
3 May 2024, 8:26 pm - Série Fish Talk – Os peixes também sofrem – ep. 3
Você sabia que, assim como os humanos, peixes expressam comportamentos alterados – inclusive alguns bem complexos – quando estão sentindo dor?
Na terceira parte do episódio A mente do Peixe, Caroline Maia e João Saraiva trazem informações sobre a capacidade dos peixes de aprender a evitar a dor. E mostram as respostas desses animais ao receberem analgésicos após um estímulo doloroso.
O Fish Talk é um podcast parceiro do Oxigênio e The Fish Mind, ou A mente do peixe é um programa desse podcast com foco na capacidade que os peixes têm de sentir dor e experimentar outros estados emocionais. Ao longo da série, vamos ouvir também sobre suas habilidades cognitivas.
O Fish Mind faz parte de um projeto que é fruto de uma colaboração do Centro de Aquicultura da Unesp (Caunesp) no Brasil com a FishEthoGroup, uma associação sem fins lucrativos que trabalha em prol do bem-estar dos peixes, preenchendo lacunas entre a ciência e as partes interessadas no setor da aquicultura, entre eles: produtores, certificadores, comerciantes, ONGs, decisores políticos e consumidores. A entidade foi criada em 2018 e está sediada em Portugal.
Quem apresenta o episódio são a Caroline Maia e o João Saraiva, pesquisadores da Associação FishEthoGroup. A introdução do episódio foi feita pelo Luiz Henrique Queiroz Leal.
Conheça agora o The Fish Mind Programme e acompanhe todos os episódios, você vai descobrir muitas curiosidades sobre peixes!
Se não conseguir aguardar a publicação dos episódios pelo Oxigênio, vá direto ao site do programa: https://fishethogroup.net/whatwedo/dissemination/fishtalk/
Vamos ao episódio!
______________________________________
João: Sabia que, assim como os humanos, os peixes aprendem a evitar estímulos dolorosos? Eles até escolhem receber analgésicos quando têm essa chance em uma situação dolorosa!
Carol: Neste episódio do programa ‘A mente do peixe’, vamos falar sobre a capacidade dos peixes de aprenderem a evitar a dor e sobre suas respostas ao receber analgésicos após um estímulo doloroso.
Eu sou Carol Maia.João: E eu sou o João Saraiva, e começa agora o episódio Os peixes também sofrem – parte 3!
Carol: Quando temos dor em uma mesma condição que se repete, apenas algumas experiências são suficientes para entendermos que, ao evitar essa condição, evitaremos também a dor. E isso já foi
demonstrado em peixes também, no estudo ‘Avoidance learning in goldfish (Carassius auratus) and trout (Oncorhynchus mykiss) and implications for pain perception’, publicado em 2006.João: Os cientistas desse estudo investigaram os comportamentos de peixinhos dourados e de trutas ao receberem choques elétricos em regiões específicas dos seus aquários. Surpreendentemente, as
duas espécies aprenderam facilmente e rapidamente a evitar lugares onde recebiam choques de forma consistente.Carol: Nesse mesmo estudo, os pesquisadores também descobriram que esses peixes eram capazes de modular essa resposta de evitação de acordo com as circunstâncias e o contexto. As trutas – que são
peixes muito sociais – toleraram choques mais fracos apenas para ficarem mais próximas de outros indivíduos de sua própria espécie.João: Por outro lado, os peixinhos dourados não expressaram essa resposta. Em vez disso, eles continuaram evitando os choques, independentemente de estarem perto ou longe de outros
indivíduos da sua espécie. Isto faz sentido se levarmos em conta que, ao contrário das trutas, os peixinhos dourados não são assim tão sociais…Carol: Isso é fascinante! E vale mencionar que já existem algumas evidências científicas indicando que quando os peixes passam por uma situação muito ruim, apenas uma única experiência pode ser
suficiente para que esses animais aprendam a evitar essa mesma situação no futuro.João: Mas e quanto a receber analgésicos e voltar a se comportar naturalmente após um estímulo doloroso, assim como fazem os humanos? É possível que os peixes também façam isso?
Carol: Sim! De fato, já existem estudos mostrando que uma vez que o estímulo doloroso foi percebido pelos peixes, desencadeando assim alterações comportamentais evidentes em resposta, o
comportamento natural desses animais pode ser restaurado se eles receberem analgésicos!João: O estudo ‘Novel object test: examining nociception and fear in the rainbow trout’, publicado em 2003, mostrou que a truta arco-íris ao tomar analgésicos, volta a expressar seu medo natural de se
aproximar de objetos novos no aquário – que havia sido perdido devido a um estímulo nocivo.Carol: E não para por aí! Existem evidências científicas de que os peixes são capazes até de escolher receber analgésicos quando estão sentindo dor e têm a oportunidade de fazer isso! Algo que já foi
demonstrado em peixes paulistinhas no capítulo ‘Do painful sensations and fear exist in fish?’, publicado no simpósio internacional ‘Animal suffering: From science to law’, em 2013.João: Esse tipo de resposta, assim como todas as outras que foram apresentadas neste episódio, são uma indicação clara de que os peixes expressam muito mais do que um mero reflexo quando experimentam estímulos nocivos. Eles realmente sentem dor, tentam aliviá-la e aprendem a evitá-la!
Carol: Além de todas essas descobertas incríveis que dão suporte ao fato de que os peixes sentem dor, é importante considerar que a dor não é a única causa de sofrimento… Os peixes também são capazes
de sentir estresse, ansiedade e medo, que também podem causar sofrimento a esses animais. Mas esse é o tema do nosso próximo episódio sobre o sofrimento dos peixes! Fique ligado!João: Este episódio foi apresentado por mim, João Saraiva, e pela Carol Maia, que também o coordenou. Nós somos da FishEthoGroup Association.
Carol: Você pode acompanhar a Associação FishEthoGroup em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook (facebook.com/fishethologyandwelfare), Instagram (@fishethogroup) e no Twitter
(@group_fish). Até o próximo episódio!18 April 2024, 8:07 pm - Série Termos Ambíguos – #2 – Cristofobia
Neste segundo episódio da série Termos Ambíguos vamos falar sobre a origem e o uso da expressão Cristofobia que, assim como Ideologia de Gênero, faz parte do repertório da extrema direita transnacional e desempenha um papel importante em estratégias políticas. Esses e outros termos que vamos tratar nesta série são poderosos e capazes de evocar emoções e produzir temores e ansiedades infundadas nas pessoas.
Para tratar do termo Cristofobia, entrevistamos Janaina Tavares, doutoranda no programa interdisciplinar de linguística aplicada na UFRJ e autora do verbete Cristofobia, no Termos Ambíguos do Debate Político Atual: pequeno dicionário que você não sabia que existia, com Ronaldo de Almeida, professor de antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e com Vladimir de Souza, pastor da Igreja da Redenção Baixada, do Rio de Janeiro.
_____________________
Henrique Vieira: “O Brasil é um país cristofóbico. Essa é uma expressão muito utilizada por setores evangélicos fundamentalistas. Eles acham que o nosso país é cristofóbico porque as mulheres estão lutando pelos seus direitos, porque os LGBTs, gays, bissexuais, travestis, transexuais também se organizam e lutam pelos seus direitos. À medida que essas pautas avançam, eles acham que o Brasil está se tornando um caos”.
Daniel Faria: Essa fala é do pastor Henrique Vieira, que é ator, poeta, professor e deputado federal do Partido Socialismo e Liberdade. Ele foi eleito em 2022, pelo Rio de Janeiro. É com ele que começamos este segundo episódio do Termos Ambíguos, o podcast que mergulha nas origens das expressões e conceitos que moldam nosso mundo. Eu sou o Daniel Faria, e esse podcast é uma parceria entre o podcast Oxigênio, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, da Unicamp, e o Observatório de Sexualidade e Política, o SPW, na sigla em inglês. Aqui vamos explorar termos que estão muito presentes no nosso dia a dia, mas principalmente no debate político atual. O termo que vamos tratar hoje é CRISTOFOBIA. Mas será que isso existe mesmo?
Tatiane Amaral: Eu sou a Tatiane Amaral e vou apresentar esse podcast com o Daniel. Para começar, podemos destrinchar a palavra Cristofobia para saber a sua origem, a partir da descrição que encontramos no dicionário de Termos Ambíguos do Debate Político Atual: pequeno dicionário que você não sabia que existia, o objeto principal desta série. Segundo o dicionário, “o sufixo ‘fobia’ vem da palavra grega phobos, que significa medo ou aversão extrema a certos objetos, situações, animais ou pessoas. Para a psiquiatria, as fobias estão associadas ao aparecimento súbito de um medo irracional, injustificado e persistente”.
Daniel: Tipo aracnofobia, que é fobia de aranhas ou claustrofobia, que é o pânico de lugares fechados ou com pouca circulação. Mas foi nos anos 1970 que o psicólogo George Weinberg criou o neologismo homofobia, para descrever formas extremas de aversão a pessoas homossexuais. E, nos anos 2000, o termo se desdobrou em lesbofobia e transfobia para descrever a discriminação contra mulheres lésbicas e pessoas trans. Sim, esses termos denotam aversão extrema a pessoas, simplesmente por não se encaixarem em um padrão social heteronormativo.
Tatiane: E vem daí o termo que vamos decifrar neste podcast: Cristofobia, que é usado para denotar supostas manifestações de aversão a Cristo. Esse uso distorce o sentido político do termo fobia, pois não faz sentido usar essa definição para descrever sentimentos em relação a figuras históricas, mitológicas ou religiosas, como é o caso de Jesus Cristo.
Daniel: Porém, isso não se aplica a “cristianofobia” termo usado num documento publicado em 2003, pelo relator especial da ONU para liberdade religiosa. Nesse texto, Cristianofobia indica aversão a pessoas que professam religiões cristãs, fazendo um paralelo correto com as manifestações de islamofobia e semitismo. Mas no Brasil, desde o começo dos anos 2010, o termo usado por vozes evangélicas ultraconservadoras tem sido, de fato, Cristofobia para nomear as supostas aversões, repulsas ou até mesmo perseguições aos cristãos e ao cristianismo.
Tatiane: Os dados apresentados pelo relator especial da ONU naquele ano, assim como estudos e fatos posteriores nos dizem que a Cristianofobia é uma realidade em várias partes do mundo. O caso mais conhecido é da comunidade cristã dos Azidis que foi perseguida quando a milícia jihadista conhecida como Estado Islâmico ocupou territórios no Iraque. Mas há também registro de perseguição aos cristãos na Nigéria, China e até mesmo no Marrocos. Contudo, cabe perguntar se isso se aplica mesmo ao Brasil.
Janaina Tavares: As sutilezas perigosas como você mesma colocou, estão no fato de que existe mesmo cristofobia em diversos países, né? como no Irã, Nigéria, China, Marrocos, entre outros. A lista é bem grande.
Daniel: Esta foi a Janaina Tavares, autora do verbete Cristofobia, que compõe o Dicionário de Termos Ambíguos. Conversamos com ela para saber um pouco mais sobre este termo e seus usos problemáticos no Brasil
Janaina Tavares: Olá, me chamo Janaina Tavares, sou moradora da Baixada Fluminense, evangélica há oito anos, e faço doutorado no programa interdisciplinar de linguística aplicada na UFRJ. Contribuo como orientadora de projetos na iniciativa de Educação antirracista Baixada Lab. Faço parte da igreja cristã Redenção Baixada e pesquiso letramento de sobrevivência de esperança na produção cultural e no chão das igrejas progressistas.
Daniel: A origem do termo Cristofobia remonta ao início do século XXI. Em 2003, nos Estados Unidos, um pastor da Igreja Metropolitana usou o termo “cristofobia” para descrever como as comunidades LGBT+ rejeitavam as igrejas cristãs que repudiavam, radicalmente, as homossexualidades, lesbianidades, transexualidades. E, claro, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas muito rapidamente o termo passaria a ser usado por vozes conservadoras, para criticar visões políticas que, segundo elas, negavam o legado do cristianismo.
Tatiane: No Brasil, esse uso negativo do termo proliferou desde o começo dos anos 2010, quando forças religiosas atacaram visões e propostas legislativas favoráveis aos direitos LGBTQIA+. Mas o termo ganhou mais destaque nos últimos anos.
Janaína Tavares: Ser cristã facilitou na busca pelos caminhos desse termo ambíguo, pois outros contatos com teólogos, sociólogos, cristãos, que me ajudaram com pistas. E o que a gente entende sobre o termo é que a palavra cristofobia ela é usada para descrever o medo ou aversão ao cristianismo. Ela é frequentemente usada por líderes evangélicos conservadores para descrever o que eles acreditam ser uma perseguição ao cristianismo no Brasil. O termo cristofobia se popularizou a partir de 2010, quando o líderes evangélicos como o Silas Malafaia e o Marcos Feliciano começaram a usar nos seus discursos e entrevistas, enfim, e também com jornalista Reinaldo Azevedo escrevendo artigos, alegando que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. O campo evangélico conservador passa a usar o termo como uma forma de reação de debate sobre o projeto de lei que propunha a criminalização da homofobia. Essa reação foi ainda maior quando também o Supremo Tribunal Federal reconhece a união civil homoafetiva em 2011.
Tatiane: A expressão passou a ser disseminada também por políticos evangélicos, ou seja, que atuam tanto na igreja como nas esferas políticas municipais, estaduais e até mesmo federal. O Marco Feliciano, mencionado pela Janaína é um desses casos. Além de pastor, ele é deputado federal pelo Partido Liberal, o PL, de São Paulo. No plano municipal, identificamos o vereador Carlão, do PL de João Pessoa, que em plenário expressou sua preocupação com o avanço da perseguição a pessoas que professam a fé cristã. Usou como exemplo países como Nigéria e Coreia do Norte, também mencionados pela Janaína, onde, segundo ele, extremistas destroem altares, templos e pessoas são atacadas, mortas ou feridas. Citou também a Nicarágua, que proibiu uma procissão católica, aproveitando para fazer uma associação entre o ditador nicaraguense Daniel Ortega e o presidente Lula. Segundo Carlão, essa perseguição pouco a pouco estaria adentrando o nosso país.
Daniel: Mas podemos dizer que o ápice desse uso distorcido do termo Cristofobia foi o discurso do então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na abertura da Assembleia Geral da ONU, em 22 de setembro de 2020. Nele, Bolsonaro apelou “pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia”. Essa alusão visava certamente mobilizar seus apoiadores fiéis que, como se sabe, são filiados às igrejas pentecostais e correntes católicas ultra conservadoras.
Ronaldo Almeida: Eu fiz um esforço quando vocês me convidaram. Um esforço de memória, para saber desde quando eu ouço essa palavra. Porque homofobia é clássica, do conhecimento de todos, mesmo não cristãos, né? De que a história do cristianismo passa pela perseguição seu nascimento seu mito de origem desde de Cristo até a chamada Igreja Primitiva.
Tatiane: Esse quem fala é o antropólogo Ronaldo de Almeida, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que realiza pesquisas sobre religião, em especial sobre os cristãos neopentecostais.
Ronaldo Almeida: Até a oficialização do cristianismo com a igreja do império já no século IV, né? Mas foi um período dos primeiros séculos de perseguição como qualquer religião minoritária, então isso não é uma particularidade também do cristianismo, a perseguição é religiosa, né? Então a perseguição aos cristãos teve na sua história no seu nascimento e deve ter a contemporaneidade. A questão é que precisa se situar, né? Aonde que ocorre essa perseguição. No Brasil, ela é um pouco estranha, para dizer a verdade, dado que a maioria da população é cristã, né? Então que povo perseguido é esse se eles compõem a maioria da população como que ela se dá?
E aí eu comecei a pensar um pouco quando eu começo a ouvir isso, né? E aí fui lembrando no final dos 80 dos anos 80, tiveram dois filmes. Um é a Última Tentação de Cristo e outro Je vous salue Marie, que era do Godard e o outro do Scorsese. Je Vous Salue Marie foi censurado pelo governo Sarney por forte pressão da Igreja Católica os dois movimentos foram muito dos católicos, né contra esses dois filmes e eu não lembro, eu procurei falei a palavra cristofobia não tava posta, ninguém tratou isso necessariamente como a perseguição. E a minha percepção é que o termo é mais recente e ele tem que ser compreendido em relação a outros termos, né? O primeiro é em relação à homofobia, eu acho que antes de mais nada é um termo que vem competir com esse.
Uma coisa que o sociólogo da religião já falecido, professor da USP, Flávio Pierucci falava sobre essa coisa do evangélico se colocar na posição de perseguido, ele falava sobre a Igreja Universal que perseguia as religiões afro, mas se colocava no discurso de perseguido. Ele chama de um efeito de reversão. E a impressão que dá que cristofobia me parece que é um pouco isso, é uma reação, uma captura do termo homofobia para jogar confusão no debate, de extinção e um pouco equilibrar o jogo, então vocês perseguem vocês dizendo que nós perseguimos os homossexuais e vocês perseguem os cristãos e aí, no mínimo empata o jogo.
Tatiane: É interessante situar a análise do Ronaldo no já mencionado contexto político dos anos 2010, quando a pauta ultraconservadora ganhou vigor, o que mais tarde daria combustível ao ciclone político que elegeu Bolsonaro em 2018. Há que dizer que o discurso da Cristofobia não está dissociado das fakes news então propagadas à época. O chamado kit gay, a legalização do aborto e a emancipação feminista criaram pânicos morais e políticos para capturar a imaginação das e dos eleitores, sobretudo com a fantasmagoria da sexualização precoce das crianças. Subjacente a essas supostas ameaças estava latente o espectro da aversão aos cristãos e ao próprio Cristo.
Daniel: Vladimir de Souza, pastor da Igreja da Redenção Baixada, a mesma que Janaina frequenta, também tem elaborações sobre as dinâmicas em que fantasmas de Cristofobia se misturam com a política eleitoral. O que a gente ainda não tinha dito é que na sua igreja, as pessoas LGBTQIA + são acolhidas e são parte ativa da comunidade. O pastor Vladi, que é pedagogo e tem formação batista, aposta na criação de canais de aproximação com evangélicas e evangélicos fora dos períodos eleitorais para tentar promover esse diálogo
Vladimir de Souza: Hoje a igreja mais conservadora não é só conservadora, ela é reacionária. Você ser conservador é primar por valores que para você são inegociáveis, ou, como diria aquele ministro da era Collor: imexíveis. Faz sentido, né? Mas não é sobre isso. Nós estamos vendo, na verdade, um movimento religioso se apropriando de pautas que, para mim, inviabilizam, precarizam ou esvaziam direitos já consolidados pela promulgação da Constituição cidadã de 1988, depois de 21 anos de ditadura militar. Então o que nós temos hoje é um movimento muito diferente. É algo que eu nunca vi, eu tô com 52 anos, me lembro muito bem como foi a primeira eleição, né? Após a ditadura, na reta final nós tivemos o Collor e o Lula, claro que a igreja viveu uma certa tensão.
Que era muito próprio, até porque a imagem do Lula estava associada ao comunismo, aquela história toda, mas não houve uma ruptura como aconteceu em 2018. O tecido religioso evangélico brasileiro, ele não é o mesmo desde 2018. Eu poderia dizer assim, eu gosto de fazer uma linha do tempo, acho que de 2013 para cá que esse processo começou. Acho que por conta das Jornadas de Junho, que colocou muita gente na rua, inclusive os evangélicos, com várias pautas, um tanto quanto confusas e difusas, mas que, de certa forma, também estava gestando essa extrema direita, em especial essa galera aí do MBL, que agora tem até um partido político, né? Então, para mim começa em 2013, depois 2013 foi apenas um abalo sísmico, né? 2016 teve um abalo mais intenso, porque tem a ver com o impeachment da Dilma, e em 2018 na verdade foi um terremoto.
Tatiane: A trajetória descrita pelo pastor Vladi mostra como o uso político da religião, somado ao recurso das fake news produziu um fantasma: o Estado estaria se opondo aos princípios cristãos. Entre outros efeitos, esse fantasma aciona ataques a políticas públicas antidiscriminatórias, inclusive no âmbito do respeito e proteção da liberdade religiosa. Embora mais de 80% da população brasileira seja filiada a religiões cristãs, existem no Brasil muitas religiões. Segundo o Censo de 2010, último dado sobre isso, 0,3%, por exemplo, estão afiliados a religiões de matriz africana e 8% declaram não ter nenhuma religião.
Daniel: E quando falamos em intolerância religiosa, as religiões de matriz africana sofrem verdadeira perseguição no país. A punição para estes atos existem desde 1997, e as penas foram aumentadas pela lei de injúria racial aprovada em 2023, a Lei 14.532. Mesmo assim, são cada vez mais comuns os ataques aos terreiros, localizados principalmente em zonas de milícias no país. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, em 2022 houveram 1.200 ataques motivados por intolerância religiosa, um aumento de 45% em relação a 2020. Um exemplo desses ataques ocorreu em 2023, no município de Piraquara, no Paraná. A Casa de Terreiro de Umbanda Tia Maria, foi apedrejada logo que se iniciaram as atividades ritualísticas. Nesse cenário e, com toda razão, as pessoas que pertencem a essa tradição espiritual, assim como as que pesquisam e lutam contra o racismo, definem essas práticas discriminatórias e violentas como racismo religioso.
Tatiane: Não podemos nos esquecer que, além dessas outras religiões, há também no Brasil correntes cristãs progressistas, que não aderem aos princípios ortodoxos dessa tradição. Elas apoiam os direitos das mulheres, da comunidade LGBT e das comunidades espirituais afro-brasileiras, que têm sido alvos de discriminação e perseguição. É o caso da Redenção Baixada, como comentam Janaina e Vladi.
Janaina Tavares: O que observamos no país é uma perseguição, entre aspas, interdenominacional, digamos assim nós da Redenção Baixada por exemplo torcemos uma igreja afirmativa e comprometida com os direitos humanos e com combate ao racismo na baixada Fluminense, que fica uma região ultra conservadora a gente já sofreu invasão no encontros online, xingamentos em postagens. Perceba também que não temos uma figura evangélica progressista que tenha tanta repercussão quanto os nomes evangélicos da direita e da extrema direita. Eu mesma, que não sou reconhecida digital e nada dessas coisas, já recebi mensagem de uma evangélica dizendo que eu não conhecia Jesus. Isso porque eu tinha compartilhado algo sobre a teologia Queer.
Daniel: O pastor Vladi também faz questão de deixar claro que sua visão sobre as pessoas queer não tem nenhuma motivação subjetiva:
Vladimir de Souza: Eu sou homem casado dentro de uma configuração tradicional, num casamento de quase 30 anos com a mesma pessoa. Eu tenho dois filhos que também até o momento me parece que são heterossexuais, então eu sou mais um aliado da luta, né? Sou mais alguém que está ali tentando construir um ecossistema possível e necessário para os nossos irmãos LGBTs. A questão é você falar nós vamos acolhê-los, outra coisa é você afirmar dar poder, dividir espaço, que é exatamente o que nós fazemos. Então nós damos um passo que eu acredito que muitos não conseguem fazer por uma série de fatores. Então, eles não só estão entre nós, eles estão em todos os lugares. Mas eles estão entre nós tendo liderança, tendo voz, tendo participação em linhas gerais, cantam, pregam, tocam, estão na escola bíblica dominical.
Daniel: Janaína relata situações nas quais se sentiu discriminada por ser evangélica, sendo que nesse caso a discriminação não vem apenas dos pastores fundamentalistas ou da direita.
Janaina Tavares: Honestamente esse discurso de perseguição das Universidades, da sociedade, contra os cristãos esse discurso cola nos seguidores por vários motivos. Podemos fazer uma reflexão muito breve aqui. Primeiro, parte da esquerda e da universidade e do campo artístico sempre olhou com maus olhos os cristãos com certa razão eu entendo. Mas isso é algo do qual não podemos negar. Eu digo isso porque eu já fui assim com os crentes quando eu não era evangélica. Segundo, para as pessoas elas não atacam com determinados tipos de informações ela só escuta uma versão da história muitas absorvem as fake news, não se importam em realmente entender o outro lado da história e outro tipo de narrativa e, enfim, existe uma acomodação também. Terceiro, tem uma presença forte e constante na vida das pessoas, através das mídias dos jornais das redes sociais os grupos de WhatsApp, as reuniões dominicais. Enfim, eu não saberia responder com precisão mas, fazendo uma avaliação digamos, empírica, acredito então que é um combo é um conjunto de coisas que fazem com que essas pessoas acreditem. Eu digo isso porque eu tenho amigos que seguem uma teologia mais tradicional, que votaram no Jair Bolsonaro, por exemplo, sabem que eu votei no outro candidato e que eu faço parte de uma igreja progressista e a gente consegue dialogar. Até hoje não consegui convencê-los a não votar com projetos fascistas, mas pelo menos a gente consegue abrir um certo diálogo, a gente consegue não se ofender. Enfim, e eu percebo que eles, de fato, nunca ouviram outro tipo de narrativa, então quando eu chego com algo, são olhos arregalados ou, enfim, então, a gente precisa ter uma certa compreensão. Existe canalhice, mas também existe falta de acesso à informação.
Tatiane: Ronaldo avalia que o uso de desinformação nas bolhas de relações acaba ajudando a deturpar uma visão sobre o que é ser cristão.
Ronaldo Almeida: Essa rede de desinformação, ela não é só produzida por cristãos de direita, né? Ela é produzida pela direita, em termos mais amplos. Então você pode ter gente Cristã religiosa, né? Ou, na verdade, a religião vira um ativo político, né? E nesse sentido, nesse nível de desinformação que a gente tá, a religião também entra. Então qualquer atitude, por exemplo de um governo Lula, um governo de esquerda, é tido como cristofobia. Qualquer tipo de regulação, é logo capturado como algo, como uma violência contra a própria religião, contra o próprio Deus, é desse jeito que é manipulado.
Uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, o termo Cristão tem mudado de sentido no país, né? E eu sempre cito um exemplo para economizar. Durante a campanha eleitoral, acho que todo mundo deve lembrar desse evento que foi muito midiático. Um sujeito bolsonarista lá em Foz do Iguaçu matou um petista no dia do seu aniversário, né? E aí faz a matéria sobre quem que é esse cara que matou e lá no Facebook, ele se identificava Cristão conservador. E eu fiquei lá procurando para ver se achava algum versículo, alguma referência a Deus, alguma comunidade. No final, não tinha nada. O Cristão na verdade virou uma identidade política, não era uma identidade religiosa. O Cristão dele, não era conjunto de crenças, não era um pertencimento a uma comunidade religiosa, mas era um alinhamento político, né? Eu acho bem interessante a proposta aqui de perseguir o termo cristofobia e mesmo o termo Cristão hoje na atualidade, que eu acho que tá diferente de 10, 15 anos atrás. Eu acho que ele adquiriu um valor político, e divisor da sociedade, que não que não se elabora em termos propriamente religiosos, mas políticos, usando a identidade religiosa.
Daniel: E com essa fala, nosso entrevistado Ronaldo Almeida condensa o que falamos neste episódio, sobre o uso político do termo cristofobia, usando um apelo religioso e distorcendo a realidade sobre quem são os cidadãos perseguidos ou alijados de direitos no país.
Tatiane: Os termos que estamos conhecendo nesta série fazem parte do repertório da extrema direita transnacional e desempenham papeis fundamentais em suas estratégias políticas. Esses termos são poderosos, capazes de evocar emoções e produzir temores e ansiedades infundadas nas pessoas. Justamente por isso, é importante compreendê-los em profundidade para contrapor as agendas e narrativas desses grupos e resistir à realidade que eles buscam construir.
Daniel: Você já tá curiose pra conhecer os próximos termos? Acesse o Dicionário de termos ambíguos no site do podcast Oxigênio e junte-se a nós no próximo episódio de “Termos Ambíguos” enquanto continuamos a desvendar as origens dos termos que moldam nosso mundo. Agradeço por nos ouvir.
Tatiane: Este foi o segundo episódio da série Termos Ambíguos, realizada em parceria com o Oxigênio, a partir do material do Termos Ambíguos do debate político atual: Pequeno Dicionário que você não sabia que existia, coordenado pela Sonia Corrêa. Esse é um projeto do Observatório de Sexualidade e Política (SPW) e do Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Linguística Aplicada da UFRJ e contou com vários autores na produção dos verbetes.
Daniel: A apresentação do episódio foi feita pela Tatiane Amaral, doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas e da equipe de Comunicação e Pesquisa SPW, e por mim, Daniel Faria, estudante do curso de Midialogia, na Unicamp, produtor e editor do áudio deste podcast. Tivemos também a colaboração do Eyder Gomes Lopes, bolsista do Serviço de Apoio ao Estudante, da Unicamp. O roteiro foi escrito pela Simone Pallone, pesquisadora do Labjor e coordenadora do Oxigênio e pelo Valério Freire Paiva, jornalista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e aluno do curso de Especialização em Jornalismo Científico, do Labjor, que fizeram também as entrevistas. A revisão do roteiro foi feita pela Tatiane Amaral, pela Nana Soares, da equipe de Comunicação e Pesquisa SPW, e pela Sonia Corrêa, coordenadora do projeto Termos Ambíguos, Pesquisadora Associada da ABIA e Co-Coordenadora do SPW.
Tatiane: Você pode nos seguir pra conhecer os próximos verbetes. E se quiser, mande seus comentários para [email protected]. O Oxigênio é um podcast de jornalismo científico produzido por estudantes e colaboradores do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Estamos em todas as plataformas de podcast e nas redes sociais. Basta procurar por Oxigênio Podcast. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigues.
15 April 2024, 7:41 pm - Série Termos Ambíguos – # 1 – Ideologia de Gênero
Você sabe o que significa o termo Ideologia de Gênero? E Cristofobia, você sabe o que é? E de onde surgiu a ideia de Racismo Reverso? Pensando em esclarecer a origem e os usos de termos ambíguos como esses que criamos o podcast Termos Ambíguos, uma parceria do podcast Oxigênio e do Observatório de Sexualidade e Política (SPW na sigla em inglês). Os episódios foram criados a partir da publicação Termos ambíguos do debate político atual: pequeno dicionário que você não sabia que existia, uma realização: Observatório de Sexualidade e Política (SPW) e Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Linguística Aplicada da UFRJ, coordenado pela pesquisadora Sonia Corrêa, ilustrado por Carol Ito e que contou com a participação de uma grande equipe de pesquisadores na elaboração dos verbetes.
Este primeiro episódio trata do termo Ideologia de Gênero, mostrando o contexto de criação ou apropriação do termo pela extrema direita em discursos que vão na contramão de políticas e leis que visem promover direitos de gênero e étnico-raciais. O episódio conta com entrevistas de Rodrigo Borba, do professor de ensino médio Marcos Ferreira e de Sonia Corrêa. O roteiro foi produzido por Irene do Planalto Chemin, Clarissa Reche, Simone Pallone e revisado por Clarissa Reche, Tatiane Amaral e Nana Soares. O tiktok do projeto foi produzido por Maiya Yantunde Cruz. A capa foi produzida por Marcelle Matias.
Os trabalhos técnicos foram feitos por Daniel Faria, que também apresenta o podcast junto com Yvana Leitão. A concepção do podcast é de Daniel Faria, Sonia Corrêa e Simone Pallone e conta com o apoio do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, da Unicamp e foi viabilizado pelo convênio entre o Labjor e a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids.
Acompanhe mais essa série associada ao podcast Oxigênio!
________________________________
Roteiro
Daniel: Nas eleições para presidente em 2018, um evento que pautou parte das campanhas foi a história do chamado Kit Gay. Você se lembra disso? O termo foi usado para desqualificar um material didático que integrava o programa Escola Sem Homofobia, do MEC, e cuja origem datava de 2010. // Foi impressionante como setores fundamentalistas religiosos e de extrema direita conseguiram financiar a produção e circulação de várias fake news para promover a ideia de que o programa Escola Sem Homofobia era / na verdade / parte de uma conspiração cujo objetivo era fazer com que crianças virassem homossexuais.
Yvana: É importante frisar que o fenômeno não atinge apenas o ambiente escolar. Está inserido em debates como o de banheiros unissex em locais públicos,/ cotas para pessoas LGBT,/ sem contar nos inúmeros casos de ofensas a pessoas não heterossexuais. São ataques físicos e até assassinatos.
É nesse caldo que o termo “Ideologia de Gênero” foi ganhando destaque, criando um pânico moral que se instaurou em uma parcela substancial da sociedade brasileira. O que aconteceu com o “kit gay” é um bom exemplo sobre como o termo IDEOLOGIA DE GÊNERO foi instrumentalizado pela extrema direita no país, / ou estimulado por ela / e do quanto essas distorções podem ser nefastas para as pessoas. // Mas do que se trata exatamente esse termo? // Por que ele pode ser tratado como um termo ambíguo?Daniel: Bem-vindes ao primeiro episódio de “TERMOS AMBÍGUOS”, o podcast que mergulha nas origens das expressões e conceitos que moldam nosso mundo. Eu sou o Daniel Faria, e esse podcast é uma parceria entre o Oxigênio e o Observatório de Sexualidade e Política, o SPW na sigla em inglês. Aqui vamos explorar alguns termos ambíguos que estão muito presentes no nosso dia a dia, mas principalmente no debate político atual. E por que são ambíguos? Bem, esses termos são compostos por palavras simples e conhecidas, mas na forma que eles têm sido usados, carregam sentidos que não os representam como estão nos dicionários.
Yvana: Olá! Eu sou a Yvana Leitão, e vou apresentar este episódio com o Daniel. / Vamos contar pra você a fascinante história por trás da expressão “IDEOLOGIA DE GÊNERO.” Vamos traçar as raízes desse termo e sua ascensão ao protagonismo político no Brasil e no mundo, e as diversas forças que propagaram esse conceito. E eu vou começar contando um caso que ocorreu com o Marcos Ferreira, que é professor de Sociologia em uma escola estadual de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. / Na verdade, quem vai contar é ele.Marcos Ferreira: eu sou professor há mais ou menos 11 anos, né? E em sala de aula, eu observei que os meus alunos, eles têm uma certa dificuldade em entender essa coisa da relação de gênero, né da questão de gênero e sexualidade de acordo com conteúdos básico comum, né? De acordo com as normas e as regras de educação aqui em Minas Gerais a gente tem que trazer esse tema pra sala de aula, né, eu abordo ele eh um bimestre todo, ou seja, uma média de mais ou menos dois meses.
Daniel: Aprender sobre gênero e sexualidade é direito dos estudantes, deve integrar a formação pessoal e social da escola. Esses conteúdos fazem parte da Base Nacional Comum Curricular a nível nacional, mas ainda são muito mal vistos pelas camadas mais conservadoras da escola e da sociedade. Isso porque, de acordo com a religião e os valores dessas pessoas, a equidade entre homens e mulheres, a existência de gays, lésbicas, trans ou o casamento entre homossexuais, poderiam levar ao fim dos valores da sociedade e da família. Promover o debate sobre essas questões em sala de aula, leva os alunos a refletirem que existem outras formações de família, que as sociedades mudam, que os valores mudam e que é preciso respeitar.
Daniel: Retomando a experiência do Marcos, ele contou que nas aulas iniciais sobre gênero e sexualidade, trabalha conceitos sobre o que é “ser homem” e o que é “ser mulher”, e também sobre identificação heteronormativa, diversidade de gênero, classificação sexual como Hetero, Bi, Lésbica, Gay, Trans, Assexualidade e outros. E em 2018, diferentemente de anos anteriores, ele propôs que os alunos fizessem um trabalho de criar “imagens” sobre a temática das aulas, até para evitar muitos embates em sala, o que gerava grande desgaste. Muitas vezes por questões religiosas e morais por parte dos alunos. E qual foi o resultado? O próprio Marcos vai te contar.
Marcos Ferreira: Os alunos fizeram trabalhos maravilhosos. Usei todos os meus alunos, dez ou onze turmas, cada turma com uma média de trinta alunos em sala de aula e aí movimentei esse povo todo só com imagem. Essas imagens foram espalhadas para a escola inteira, né? Chamou atenção de todo o corpo docente, da direção, da vice-direção e o povo gostando.
Yvana: O professor ficou bem satisfeito com o sucesso da sua proposta. Ele disse que identificou nos trabalhos dos alunos e das alunas formas de sofrimentos, de violência física, preconceitos, discriminação, estigma e intolerância às mulheres e à população não hetero. Percebeu um engajamento político em alguns trabalhos com falas gravadas.
Daniel: Apesar do sucesso do projeto, uma colega da escola de Marcos, professora de linguagens ficou, como ele disse, inquieta com as imagens espalhadas pela escola, especialmente com dois dos cartazes que, segundo ela, eram imagens pesadas para um espaço onde tinha crianças, e que iam contra sua crença religiosa. Uma era a imagem de uma pessoa com várias formas: homem, gay, trans e outras. A segunda era a representação de um estupro, com uma mulher derramando sangue do órgão sexual e uma pessoa com a Bíblia direcionada para a vitima.
Yvana: Sem o apoio da direção para tirar os cartazes, a professora convocou o colegiado, do qual fazem parte membros da comunidade onde a escola tá inserida. A movimentação da comunidade escolar acabou atraindo um político da região, que reuniu uma comitiva de assessores e foi pra escola, filmou os desenhos dos estudantes e postou nas redes sociais, em tom de repúdio àquele trabalho pedagógico. E assim, a coisa foi crescendo. Esse político era o deputado federal Lincoln Portela, do PL de Minas.
Marcos Ferreira: Nossa, parte pior veio depois dessas filmagens. Foram mais de 60 mil visualizações, mais de 30 mil comentários, né? “Estão doutrinando meus filhos”! etc e tal. A direção da escola, aí entrou a secretaria de educação, na situação eu não dormi a noite, né? Porque eu precisava ver todos os comentários, porque a minha vida tava em risco naquele momento, entendeu? Eu entrei em contato com a Secretaria de Educação [que disse], você não vai fazer nada, nós vamos tomar conta da situação e o senhor não vai se envolver em nada. A minha sorte foi que eu estava 100% dentro das normas da Secretaria de Estado de Educação que tem como base, né, a BNCC a nível nacional e aí foi o argumento utilizado a todo tempo para o colegiado.
Daniel: Histórias como a que o Marcos contou foram pipocando em vários lugares: Patos de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo… Vários deputados estaduais e federais e também vereadores ligados a partidos conservadores, passaram a contestar o ensino de conteúdos pedagógicos que abordavam a diversidade de gênero e sexualidade. Houve também um forte apelo moral por parte dos fundamentalistas religiosos, evangélicos e católicos, alegando que trabalhar gênero e sexualidade na escola se tratava de reproduzir uma “ideologia de gênero” que destrói a família e produz desordem social. Diante desse cenário de tensão dentro e fora da escola, o professor Marcos optou por um novo caminho didático:
Marcos: 2019, novamente chegou a época de eu trazer a temática pra sala de aula e agora, né? Como fazer sem o enfrentamento, né? Eh mudar novamente a estratégia, né? aí a minha estratégia no ano seguinte foi trazer a religião pra sala de aula. Deu certo. eu fiz um estudo, né? Como é que que aquilo está posto lá, questão de da sexualidade eh na religião. E eu estudei um pouco e aí eu consigo dar um equilíbrio. Mas um equilíbrio obviamente no sentido de mostrar pra eles que não existe somente uma sexualidade, uma classificação sexual, a heterossexual, existe inúmeras, centenas talvez, entendeu? E aí eu trouxe pra sala de aula mais de cem classificações, e eles se identificavam com umas, né? eu eu trago, eu eu uso uma linguagem muito própria dos alunos, né? E e o maior tabu é a questão da religião. Todas as vezes que eu começo abordar esse tema, alunos que eram meus amigos, viram meus inimigos, né? E sempre tem uma porcentagenzinha de alunos. É porque eles não aceitam, né a maioria geralmente são alunos evangélicos, entendeu? Existem alunos que se que ele que ele chega pro professor e diz não é um professor legal gostei muito da sua aula não sabia dessas situações. Tem aluno que se mostra muito curioso: “e existe isso mesmo”?
Yvana: Alguns alunos, principalmente evangélicos que, segundo Marcos, não recebem bem esse conteúdo, confrontam e questionam em que o professor se baseia pra dizer que existem inúmeras outras classificações sexuais, além da heterossexualidade, e que isso não está na Bíblia. Mas a principal reação ainda é de curiosidade.
Daniel: Depois de ouvir essa experiência do Marcos, a gente vai mostrar como o termo “ideologia de gênero” é um termo usado para deslegitimar o campo de estudos de gênero e políticas destinadas a alcançar a igualdade de gênero. A tal da “ideologia de gênero” serve como estratégia para desqualificar teorias, leis e políticas públicas que contestam desigualdades, exclusões e violências, sejam elas entre mulheres e homens, sejam elas decorrentes das normas impostas pelo que se chama de cis-heterossexualidade. Quem vai falar sobre isso vai ser o Rodrigo Borba, professor de linguística na Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor do verbete Ideologia de Gênero e um dos organizadores do dicionário.
Rodrigo: A minha preocupação especificamente ao escrever o verbete sobre ideologia de gênero tem a ver com o projeto mais amplo, o que nos motivou a produzir esses dicionários, aliás os dois dicionários, né?, o dicionário de termos ambíguos do debate político atual e também a sua versão para um público mais jovem, foi o fato de que, embora haja muitas pesquisas sobre extrema-direita, sobre o campo conservador, sobre o campo super conservadores e seu léxico, suas palavras, as palavras que eles utilizam para mobilizar a população. Ou pelo menos parte da população de forma produzir certos medos contra um grupo que eles acabaram por inventar como inimigos, né? como opositores. Então o objetivo do projeto é justamente transformar esse conhecimento que já está bastante sólido na academia, para um público que, em geral, não tem acesso a esse conhecimento, porque esses textos são publicados em livros, em artigos científicos que não circulam para um grande público.
Yvana: Tá, mas…e como essa noção de gênero foi apropriada pela extrema direita a ponto de ser chamada de “ideologia”, usada para provocar medos e rejeição em torno dessas questões? Nada melhor que o Dicionário de termos ambíguos pra nos ajudar a entender essa jornada. Ao abrirmos a página 33 do Dicionário, a gente volta lá pra 2003, quando, em 14 de julho daquele ano, o termo “ideologia de gênero” surgiu pela primeira vez no Brasil. Em um discurso na Câmara, o deputado federal Elimar Máximo Damasceno, do Partido da Reedificação da Ordem Nacional (PRONA), um partido inspirado no movimento integralista, expressou suas preocupações. Ouça, na voz de Luiz Henrique Queiroz Leal.
Luiz Henrique Leal – Abre aspas: “A palavra ‘gênero’ sempre foi usada para designar o sexo. (…) Agora, a expressão ‘gênero’ adquiriu outro significado, dentro de uma ‘ideologia de gênero’. Gênero seria o papel desempenhado por um dos sexos, não importando se nasceu homem ou mulher (…) Isso é mais um eufemismo para encobrir desvios no comportamento sexual.” Fecha aspas.
Daniel: No dicionário, o Rodrigo nos mostra que o termo “ideologia de gênero” se originou fora do Brasil bem antes e tem sido usado por forças conservadoras desde os anos 1990 para se opor à igualdade de gênero, aos direitos reprodutivos e sexuais e aos direitos LGBT+, embora o Vaticano já estivesse produzindo textos sobre o tema bem antes, ainda nos anos 1980. A conexão entre “ideologia de gênero”, comunismo, marxismo cultural, globalismo, patriotismo e outros conceitos tem sido uma estratégia compartilhada por neoconservadores religiosos e a nova direita em várias regiões, especialmente na América Latina e Europa. Rodrigo Borba nos fala sobre isso:
Rodrigo:A fórmula ideologia de gênero, embora nem sempre com essas mesmas palavras, ela é muito antiga. As pesquisas mostram que a Igreja Católica vem há muitas e muitas décadas investindo numa campanha contra mudanças sociais provocadas pelo feminismo. E com isso a igreja vem reformulando seus dogmas de forma que eles pareçam menos excludentes. Então tem gente, por exemplo, que diz que a história dessa noção de ideologia de gênero remonta ao Papa Pio XII. Porém, de forma mais direta, de forma mais intensa, o João Paulo II teve uma atuação bastante importante nessa cruzada vaticana contra o feminismo e contra as mudanças sociais provocadas pelo feminismo. E mais recentemente, claro, o Bento 16, o Ratzinger, que teve um papel crucial nessa história. Então a ideologia de gênero tem uma história muito antiga e pontos de eclosão muito difusos, ou seja, um fenômeno transnacional por excelência, que quando quando ele aparece em contextos nacionais ele tanto repete coisas que já estavam bem estabelecidas no discurso religioso sobre ideologia de gênero, quanto se adapta aos sabores locais. O verbete conta parte dessa história, escolhe pontos nodais dessa história para que faça sentido para o Brasil, né?
Yvana: Rodrigo relembra o caso do deputado do Prona, mas traz o caso para mais perto dos dias atuais, lembrando que um pouco antes de 2013, veio a história do kit gay e pra ele, o kit gay se acoplou à essa falácia da ideologia de gênero. E aí ele, como autor, tinha um grande desafio de contar essa história toda em apenas 2.000 palavras, que era o tamanho combinado para os verbetes. E tinha que contar como o termo foi adquirindo diversos sentidos e como e como esses sentidos foram se transformando.
Rodrigo: A Sonia Corrêa, por exemplo, diz que a ideologia de gênero é mais ou menos como uma hidra, né? Um monstro de muitas cabeças que se alimenta de muitas fontes diferentes.
Daniel: A Sonia Corrêa ainda não tinha aparecido aqui. Ela é ativista e pesquisadora nos temas de gênero, sexualidade, saúde e direitos humanos. É uma das coordenadoras do Observatório de Sexualidade e Política, que é um programa da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) e foi quem, ao lado do Rodrigo, organizou o dicionário, nas suas duas versões. A Sônia foi “testemunha ocular” da eclosão do problema de gênero do Vaticano em 1995, durante a preparação para a Conferência Mundial das Mulheres que aconteceu naquele ano em Pequim. Segundo ela, na verdade, o cardeal Ratzinger já tinha preocupações com a teoria feminista da sexualidade pelo menos desde a metade dos anos 1980.
Yvana: Na verdade, não só ele. Entre a Conferência de População e Desenvolvimento do Cairo em 1994 e a Quarta Conferência Mundial das Mulheres, realizada em Pequim, em 1995, assim que a terminologia de direitos sexuais e orientação foi incorporada ao texto em negociação, a Santa Sé, apoiada por Sudão, Malta e Honduras, solicitou que o termo gênero fosse revisto e exigiu do Secretariado uma definição precisa do seu conteúdo. Em paralelo, gênero era virulentamente atacado nos espaços em que se movimentavam as organizações da sociedade civil envolvidas com o processo que levaria a Pequim. E nos anos 2000, o Vaticano faz uma elaboração teológica sobre o tema. Em 2003 lança um dicionário intitulado O Léxico sobre os Termos Ambíguos acerca da família, em que há um verbete que trata da ameaça de gênero.
Daniel: Acho que você já percebeu de onde veio a inspiração do nome do dicionário que estamos divulgando neste podcast…
Sonia: Eu cheguei nas Nações Unidas quando estava em crise a coisa do gênero. Nos processos das Nações Unidas, quando os estados estão negociando você tem um texto e o texto vai sendo lido. Quando há desacordo em relação a um termo, esse termo fica entre colchetes pra indicar que não há consenso. Depois esse termo vai continuar sendo discutido até se chegar a um consenso.
Eu cheguei lá tava todo mundo em pânico porque gênero estava entre colchetes. Pode não haver consenso em relação a gênero, que era um termo que tinha sido adotado na conferência anterior, na academia, né? Já tava super legitimado. O que aconteceu foi que as forças religiosas conservadoras, americanas, as ONGs que estavam presentes ali no entorno do debate elas distribuíram o panfleto que usava um texto de divulgação científica da bióloga feminista Anne Faust o-Sterling que é, uma bióloga embriologista especialista em estudos de intersexualidade né? E era um um texto de divulgação científica de 92 em que a Fausto-Sterling tenta explicar que do ponto de vista da biologia molecular que ela estuda, entre o sexo masculino e sexo feminino há todo um gradiente de posições possíveis não é? Dependendo do dos níveis hormonais, das gônadas, outras características biológicas.Yvana: Quer dizer, já no começo dos anos oitenta essas forças conservadoras tavam escavando os textos da produção científica, da produção feminista, da produção do campo progressista pra identificar categorias, definições e argumentos que poderiam ser usados nessa mobilização do chamado “renascimento conservador”. E é incrível como se usa a ciência estrategicamente para criar desinformação, né? Essa rede disseminação de desinformação foi sustentada não somente pelas regras frouxas de distribuição de conteúdo online, mas também foi encarnada no discurso de grandes líderes populares, políticos e religiosos.
Daniel: Mas aí, seguindo o Dicionário dos termos ambíguos, a gente entende que foi durante os debates sobre o atual Plano Nacional de Educação, que o termo ganhou ainda mais destaque no Brasil. A inclusão da igualdade de gênero e diversidade sexual nas escolas enfrentou ataques incansáveis de um grupo cristão conservador associado ao Movimento Escola sem Partido. Essas ofensivas contra o conceito de gênero tiveram efeitos duradouros. Professoras e professores, especialmente do ensino fundamental e do ensino médio, passaram a ser atacados por acusações de promover ideologia de gênero. Essa foi a população que mais sentiu sua atividade profissional cerceada. Qualquer coisa que fizesse em sala de aula poderia ser interpretada como uma promoção de ideologia de gênero. A deputada estadual de Santa Catarina, ultraconservadora, Ana Caroline Campagnolo, chegou a abrir um canal para receber denúncias de pais e estudantes. Mas não foi só ela, como lembra Rodrigo.
Rodrigo: Um pouco mais tarde, como uma uma pesquisa da SPW mostrou, até mesmo o Disque 100, que é o número que se pode ligar, né, o número do Governo Federal de defesa dos Direitos Humanos quando o ministério dos Direitos Humanos estava sob o comando da Damares Alves, incluiu-se a categoria e ideologia de gênero como uma uma categoria que podia ser denunciada, né? Ou seja, as pessoas poderiam ligar pro Disque 100 e dizer: “olha a minha professora está promovendo ideologia de gênero em sala de aula”. Então, esse foi um dos principais grupos que sofreram acusações de estarem promovendo ideologia de gênero, né?
Daniel: Essa situação fez com que Rodrigo pensasse muito nesse público escolar para escrever sobre o tema.
Trecho de Voz – Jair Bolsonaro (Português): “Kit gay! Kit gay! Kit gay!”
Yvana: Em 2011, Jair Bolsonaro, então deputado, foi o primeiro político a usar o termo “kit gay” para atacar vídeos educacionais produzidos pelo Ministério da Educação (MEC) para distribuição nas escolas. Bolsonaro usou o “kit gay” durante sua campanha presidencial em 2018 para acusar seu oponente Fernando Haddad de promover a “ideologia de gênero.” Uma vez eleito, Bolsonaro declarou que essa “ideologia” seria combatida em seu governo, e desde 2019, essa oposição a questões de gênero tem sido traduzida em sucateamento e abandono de políticas públicas. E aí, vale a pena ouvir um trecho da fala da Erika Hilton, deputada federal pelo estado de São Paulo, no programa Roda Viva, da TV Cultura, em setembro de 2021:
Erika Hilton: Eu acho lamentável que isso tenha partido do Vaticano com o Papa Bento XVI na construção do que seria a ideologia de gênero que foi se desdobrando ao kit gay, a mamadeira de piroca e a todos esses absurdos que nós vimos famílias inteiras acreditando. E é muito triste ver que isso partiu de um espaço religioso, de um espaço de fé. Fundamentalismo que se utiliza da fé das pessoas pra gerar um pânico moral, pra gerar um medo e gerar um caos, né?
Eu acho que ter sido eleita como uma mulher, como a mulher mais bem votada do país, mostrando o que eu tenho namorado, que eu tenho irmãs, que eu tenho mãe, que eu sou filha, que eu sou neta, que eu sou várias coisas, vai desmistificando essa ideia de que LGBTs, de que pessoas trans querem destruir a família, de que pessoas trans querem contaminar as escolas e as pessoas com uma ideia pornográfica, com uma ideia de desvalorização da vida. E nós só conseguiremos construir um diálogo com as pessoas que estão do outro lado, olhando pra pauta de gênero, pra pauta da sexualidade como uma coisa demoníaca, como uma coisa que vai desestruturar a sociedade, como se nós não fizéssemos parte da sociedade quando nós partirmos do campo, da didática, da pedagogia. É uma coisa Paulo Freiriana que precisa estar incorporada no nosso discurso ativista, no nosso discurso militante pra que nós começamos a nos está com as pessoas que a igreja consegue conectar. E a gente precisa encontrar um um uma palavra, encontrar uma didática que nós possamos primeiro mostrar que não há nada de errado com nós que nós não temos a pretensão de acabar com a família. Nós só queremos que a que na família também possa haver democracia. Que a família possa ser representada por várias vertentes de várias formas e que nós também temos família. Que nós também fazemos parte de uma família e que nós não queremos impor nada a ninguém. A nossa intenção não é fazer com que ninguém seja gay, lésbica ou trans muito pelo contrário é pra que as pessoas que é sem unção possam ter a liberdade de existir.Yvana: Rodrigo reforça essa questão.
Rodrigo: Um dos desafios desse verbete é contar essa história que é bastante complexa, né? É mostrar que a questão do gênero não tem nada a ver com o que se fala sobre ideologia de gênero, é o conceito de gênero, é a ideia de gênero tem como principal objetivo mostrar que a sociedade produz hierarquias, diferenciações entre homens e mulheres e que essas hierarquias e diferenciações não têm nada de natural ou seja, elas são socialmente construídas. Ou seja então, ao se falar de gênero falar de gênero é problematizar como essas hierarquizações, essas diferenças são inventadas, não são inerentes a homens e mulheres não se nasce assim quando se fala em gênero o que se o que se está o que está em jogo na verdade é pensar em possibilidades de construir uma sociedade mais igualitária e não tem nada a ver com doutrinação de criança, com transformar criança em homossexuais, homossexualizar criança, né?
Daniel: Mas o combate contra forças conservadoras é difícil. Em recente artigo na Folha de S. Paulo, a jornalista Dani Avelar diz que há uma ofensiva legislativa contra pessoas trans no Brasil. E, segundo levantamento da Folha, ao menos 69 projetos de lei antitrans foram apresentados nas esferas federal, estadual ou municipal até março de 2023. A maior parte desses projetos são da esfera estadual e o Partido Liberal sai disparado na frente em número de projetos, com 37 propostas. Em segundo lugar, o União Brasil apresentou 8. Vamos deixar o link para a coluna da Dani no site.
Yvana: E você deve estar se perguntando quais são os temas desses projetos, e são vários: tem projetos nas áreas de linguagem, saúde, esporte, educação… alguns visam a proibição do uso de linguagem neutra em escolas e na administração pública; outros querem impedir o acesso de crianças e adolescentes trans a procedimentos como uso de bloqueadores de puberdade e hormônios; nos esportes querem estabelecer apenas o sexo biológico como critério para determinar gênero em competições; alguns insistem em impedir a implementação do projeto Escola sem Partido, justificando ser ideologia de gênero. Tem uma proposta de prender adultos que apoiem menores de idade na transição de gênero e, claro, um dos projetos que têm provocado grande euforia, e que foi tema bastante falado nas últimas eleições, é a proibição de banheiros unissex em estabelecimentos públicos e privados. São projetos que visam cercear os direitos das pessoas trans.
Daniel: Na nossa imersão, fica evidente que o termo “ideologia de gênero” opera como um espantalho ideológico, reunindo forças distintas em torno de “inimigos comuns”: a diversidade de gênero, feministas e direitos LGBT+. Compreender o contexto histórico desse termo nos permite entender como o conceito de gênero, um conceito elaborado a partir da critica feminista, pôde ser instrumentalizado para fins antidemocráticos. No próprio Dicionário de termos ambíguos, existem outros termos que podem nos ajudar a entender como se constroem e se modificam, historicamente, palavras e seus sentidos. O termo “ideologia”, o termo “cristofobia”, mostram a articulação de narrativas pra gerar discurso de ódio, repúdio, medo e desordem social.
Sonia: ideologia de gênero, patriotismo, cristofobia, né esperando que as pessoas ao lerem né eh o verbete, os verbetes, compartilhem e que isso possa de fato contribuir pra não serem tão facilmente capturadas por esses ciclones discursivos, né? Compreenderem que eles tem uma história, que eles tem um objetivo, saberem argumentar frente a quem traz essas ideias e e faz essas acusações, né?
Daniel: Hoje pudemos conhecer e repensar o termo “ideologia de gênero”, adentrando juntes nos termos e vocabulários que fazem parte de um repertório de extrema direita e transnacional. As palavras que vamos conhecer nesta série são dispositivos muito importantes, capazes de agregar afetos e produzir sentimentos, temores e medos nas pessoas. Você já tá curiose pra conhecer os próximos termos? Acesse o Dicionário de termos ambíguos no site do podcast Oxigênio e junte-se a nós no próximo episódio de “Termos Ambíguos” enquanto continuamos a desvendar as origens dos termos que moldam nosso mundo. Agradeço por nos ouvir.
Yvana: Este foi o primeiro episódio da série Termos Ambíguos, um podcast realizado em parceria com o Oxigênio, a partir do material do Termos Ambíguos do debate político atual: Pequeno Dicionário que você não sabia que existia, coordenado pela Sonia Corrêa. É um projeto do Observatório de Sexualidade e Política (SPW) e do Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Linguística Aplicada da UFRJ e contou com vários autores na produção dos verbetes.
Daniel: A apresentação do episódio foi feita pela Yvana Leitão e por mim, que também sou o produtor e editor de áudio. O roteiro foi escrito pela Simone Pallone, pesquisadora do Labjor e coordenadora do Oxigênio e pela Irene do Planalto Chemin, estudante de Antropologia e Ciências Sociais e membro do podcast Mundaréu. A revisão do roteiro foi feita pela Clarissa Reche, também do Mundaréu, pela Nana Soares, jornalista da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids e pela Tatiane Amaral, mestranda em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – Rio) e pesquisadora do SPW.
Yvana: Segue a gente pra conhecer os próximos verbetes. E se quiser, mande seus comentários para [email protected].
O Oxigênio é um podcast de jornalismo científico produzido por estudantes e colaboradores do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Estamos em todas as plataformas de podcast e nas redes sociais. Basta procurar por Oxigênio Podcast. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigues.
SONS UTILIZADOS
Music by: Bensound
License code: GZAKZDHLMSF45IQO
Music I use: https://www.bensound.com
License code: HLKOXKEOH9130FUA
Music by Bensound.com/free-music-for-videos
License code: 0FMZLBJPUFMVKJEZ
Music: Bensound
License code: OMSDTCLG6HC0I6NI
Music I use: https://www.bensound.com
License code: BHEP3KSARRSYCMHV
Music by: Bensound.com/free-music-for-videos
License code: 3AT4OFSH0RK3MZCO4 March 2024, 3:14 pm - #174 – Um esqueleto incomoda muita gente
Novas descobertas sobre evolução humana sempre ganham as notícias e circulam rapidamente. Mas o processo de aceitação de novas evidências entre os cientistas pode demorar muito. Neste episódio, Pedro Belo e Mayra Trinca falam sobre paleoantropologia, área que pesquisa a evolução humana, e mostram porque ela é cheia de controvérsias e disputas. No episódio você escuta entrevistas com Gabriel Rocha, do IEA-USP, com Bernardo Esteves, autor do livro “Admirável Novo Mundo” e com Mírian Pacheco, pesquisadora e professora na Ufscar. Que contam, a partir de três exemplos muito ilustrativos, como essa área depende e é influenciada pelas narrativas de diferentes grupos de pesquisa.
_____________________
ROTEIROPEDRO: Sempre que uma nova descoberta sobre evolução humana acontece, ela rapidamente chega às notícias e costuma ser sucesso de compartilhamento nas redes sociais. É uma área de pesquisa que desperta muito a curiosidade das pessoas, talvez porque muita gente se interesse em descobrir de onde a gente veio, como é que a gente chegou aqui.
GABRIEL ROCHA: Eu acho que essa área da antropologia, da paleoantropologia, ela é uma área perigosa, porque é uma área muito fácil de você conseguir visibilidade. A mídia tá muito interessada no que você tem a dizer, são histórias em que a população tá interessada em saber sobre o que tá acontecendo, é um assunto interessante. Então, a gente acaba tratando com muitos egos inflados ao mesmo tempo e tem uma briga muito grande com relação a isso.
MAYRA: Em todas as áreas da ciência, é comum que novas descobertas levem um tempo para serem aceitas por toda a comunidade científica e esse é um processo importante, já que as críticas refinam as hipóteses, garantindo que elas sejam o mais próximas da verdade quanto é possível. Só que na paleoantropologia, que é a área que estuda a evolução dos seres humanos, essa resistência diante de novas descobertas é ainda maior.
GABRIEL ROCHA: Eu sinto que essa é uma característica muito íntima da arqueologia, de ser uma área um tanto incerta quando a gente vai falar de algumas coisas porque é difícil bater o martelo, é difícil ter certeza do que você está falando. Então a gente sempre trabalha com interpretações, com leituras da situação. E querendo ou não, nós temos escolas de pensamentos diferentes, então algumas escolas vão seguir por um caminho e vão ter uma interpretação válida enquanto outras escolas vão seguir por outro caminho e ter uma interpretação igualmente válida. E eu acho que essa é uma característica importante da arqueologia.
PEDRO: Eu sou o Pedro Belo, sou jornalista, produtor e roteirista do podcast Ciência Suja, e também sou aluno da Especialização em Jornalismo Científico do Labjor – Unicamp.
MAYRA: E eu sou a Mayra Trinca, que você já conhece aqui do Oxigênio. Nesse episódio, vamos trazer três exemplos de como estudar evolução humana é um negócio meio complicado, cheio de interpretações e disputas. O primeiro deles é sobre a origem da espécie humana, onde e quando surgiram os primeiros Homo sapiens?
PEDRO: A segunda briga é quase um clássico pro pessoal dessa área: quem foram os primeiros ocupantes das Américas? Mais do que isso, quando e como essa galera veio parar aqui?
MAYRA: E a terceira fala sobre o surgimento do pensamento simbólico, característica muito usada pra diferenciar a nossa espécie de outras ancestrais, mas que na verdade tá relacionada a visões eurocêntricas da ciência.
[VINHETA OXIGÊNIO]
PEDRO: Pra começar o nosso primeiro exemplo, sobre a origem dos Homo sapiens, a gente conversou com esse que você escutou no início do episódio, o Gabriel Rocha. O Gabriel é graduando em Biologia na Unesp de Botucatu, e atualmente é pesquisador bolsista da Fapesp no Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA-USP.
MAYRA: O Gabriel trabalha diretamente com o Walter Neves, professor titular do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva na USP, uma referência nessa área, e considerado o “pai” da Luzia, o crânio humano mais antigo das Américas, estimado em 11 mil anos de idade.
PEDRO: O nosso entrevistado estuda especialmente a variabilidade morfológica dos crânios dos nossos ancestrais mais antigos. E esse é um trabalho bem importante, porque essas análises da morfologia, que é o estudo da forma, das características estruturais de cada ser vivo, serve, nesse caso, pra determinar a qual linhagem cada esqueleto encontrado pertence.
GABRIEL ROCHA E é isso que vamos usar. Então fazem as análises morfológicas para tentar entender se esse fóssil ele se encaixa nas espécies que a gente já conhece ou se ele é muito diferente, pode ser uma espécie nova, isso é muito comum também. Tem espécies novas sendo descritas todos os anos e o grande problema é que as análises morfológicas elas vão variar muito, dependendo de quem faz as pesquisas. Então dependendo de quais fósseis você vai usar para analisar e dependendo de quais parâmetros você tá usando pra, por exemplo, definir quais são as espécies. Então essas disputas de narrativas, elas vão ser muito importantes.
PEDRO: O que acontece é que cada novo fóssil encontrado precisa ser encaixado numa linha cronológica que já foi mais ou menos estabelecida, depois de décadas de estudos anteriores. Às vezes, essa nova descoberta cabe direitinho numa linhagem já conhecida, e atende a hipótese, ou a expectativa, dos pesquisadores envolvidos, mas às vezes não.
MAYRA: O Gabriel contou pra gente o caso de alguns esqueletos encontrados em Jebel Irhout, no Marrocos, que tinham bastante semelhança com a morfologia do Homo sapiens, a nossa própria espécie, mas na hora da datação, a conclusão foi de que os fósseis tinham coisa de 315 mil anos.
GABRIEL ROCHA: O grande problema é que, os sapiens mais antigos que a gente conhece, eles estão ali entre 200 e 230 mil anos. Então esses novos fósseis eles estariam estendendo a origem do Homo sapiens, né? Pelo menos em 100 mil anos aí.
MAYRA: Só que, apesar de muito parecidos, a estrutura do crânio desses fósseis encontrados no Marrocos não é exatamente igual a dos Homo sapiens, ela é mais alongada e achatada, e não redonda como é a nossa cabeça. Isso indica que na verdade esses fósseis são de uma espécie ancestral, que provavelmente estava na base da origem dos sapiens propriamente ditos. E isso está dito no artigo que os cientistas do Instituto Max Planck, da Alemanha, publicaram descrevendo os fósseis de Jebel Irhout.
GABRIEL ROCHA: E o grande problema é que aí, quando é esse artigo foi para mídia, comunicação toda e os próprios pesquisadores começaram a falar que eles encontraram Homo sapiens mais antigo. E aí o artigo ele estourou muito por causa disso.
PEDRO: Ou seja, a repercussão que o artigo teve na mídia fez com que os pesquisadores mudassem um pouco o discurso, abraçando a ideia de que esses fósseis eram os primeiros exemplares da linhagem humana. Esse tipo de coisa rende prestígio e reconhecimento pro grupo, o que pode facilitar a arrecadação de verbas pra novas pesquisas, que são realmente bem caras e precisam mesmo de financiamento.
MAYRA: Só que nem todo mundo concorda em incluir esses fósseis no quadradinho da espécie humana, como é o caso do grupo de pesquisa que o Gabriel faz parte aqui no Brasil. E aí, enquanto não aparecem mais evidências, ou enquanto um grupo não convence o outro daquilo que está propondo, a discussão permanece em aberto.
PEDRO: Mas a história não para por aí, meu caro ouvinte.
MAYRA: Além da possibilidade desses fósseis significarem que a espécie humana começou a existir antes do que se pensava, eles também podem mudar o lugar onde ela começou. Isso porque estava estabelecido que os sapiens surgiram no leste africano, só que esses fósseis foram encontrados no Marrocos, no oeste, do outro lado do continente. Essa descoberta pode indicar que os primeiros humanos estavam muito mais espalhados pela África do que se pensava antes.
PEDRO: Mesmo que esses novos fósseis sejam considerados como Homo sapiens e com isso, mudem a história que estava contada até aqui, isso não significa necessariamente que as descobertas anteriores estivessem erradas. Como o Gabriel comentou no comecinho do episódio, a paleoantropologia é uma área de pesquisa cheia de incertezas e abordagens diferentes, e lidar com elas faz parte do trabalho.
MAYRA: Por exemplo, a datação de fósseis, processo de estimar há quanto tempo atrás aquele ser estava vivo, é uma etapa importantíssima na tarefa de tentar encaixar novas descobertas na linha cronológica da evolução. A datação por carbono 14, uma técnica muito famosa que você provavelmente conhece ou já ouviu falar, funciona muito bem, mas só para um passado relativamente curto.
PEDRO: E aí vamos pensar em perspectiva aqui, tá? Não é curto pra nós, que estamos vivendo agora, mas é curto pra história da evolução humana, que levou milhões de anos.
GABRIEL ROCHA: Você vai basicamente ver a proporção do carbono 14 naquele material, só que o grande problema do carbono 14 é que ele é pouquíssimo usado para evolução humana, porque ele só atua para períodos muito recentes, então a datação por carbono 14, ela vai bem até uns 45 mil anos, para materiais mais velhos que isso ela já não é útil. E aí, quando a gente vai para escalas de milhões de anos, por exemplo, aí a gente começa a usar outros elementos como o urânio, o tório, o chumbo. Esses vão ser mais úteis.
PEDRO: A datação por decaimento químico, que usa elementos como o carbono 14 ou o urânio, funciona medindo a quantidade desses elementos que ainda existe ali no material. Isso porque, ao longo do tempo, os átomos desses elementos têm a tendência de emitir partículas, mudando a sua forma e se transformando em outras variações mais estáveis desses elementos. Aí, sabendo quanto tempo demora pra isso acontecer, a gente sabe há quanto tempo esse material tá fossilizado.
GABRIEL ROCHA: Mas existem outros métodos também, hoje em dia se faz muito a datação por paleomagnetismo, e essa é uma parte nova da datação que acho que nem os geólogos entendem muito bem, porque eu já conversei com alguns é bem difícil, mas a galera tem aplicado bastante. E a gente tem também aquelas datações por estimulação óptica, então basicamente eles vão medir o nível de luz que sai do elemento e isso vai dar ali uma uma faixa temporal. A grande questão das datações é que não é todo sítio que dá para datar facilmente. Então para a gente datar esses materiais é importante ter uma estratigrafia muito bem delimitada, onde esses materiais foram encontrados então, as camadas da terra onde eles estão depositados é importante que elas sejam bem marcadas para a gente conseguir falar: “bom eu encontrei esse crânio nessa camada, vamos datar essa camada e aí a gente sabe a datação do crânio”.
MAYRA: Só que, como estamos falando em escalas de milhões de anos, qualquer variação que pode ocorrer nos testes aumenta a janela de possibilidades em milhares de anos, o que torna esse estudo um tanto incerto por natureza. Ainda assim, é um passo essencial e que influencia muito na compreensão dos passos evolutivos.
GABRIEL ROCHA: A datação ela é um ponto chave para essa área porque ela que vai estabelecer a nossa interpretação desse material. Um caso interessante é o do Homo naledi que ele tem uma morfologia muito primitiva, então ele tem braços compridos que é uma característica de Australopithecus, ele tem pernas mais curtas um cérebro pequeno. Então quando descobriram esse fóssil, eles já imaginaram ah, esse material tem aí seus dois milhões de anos, é um Australopithecus. E aí quando fizeram as datações viram que o material tinha 200 mil anos, que era super recente. Então deu uma mexida assim muito importante na nossa compreensão dessas morfologias.
PEDRO: É nesses momentos, quando uma descoberta mexe com o que já estava pré-determinado, que as disputas de narrativas, pesquisadores e grupos de pesquisa se tornam mais intensas. Isso porque a paleoantropologia é uma área muito custosa, mas que rende muito reconhecimento. E aí, quem tem mais credibilidade costuma levar vantagem.
GABRIEL ROCHA: Em especial o Brasil, que é um país que está começando agora a produzir pesquisa nessa área, tem sido muito difícil assim conseguir entrar nesses espaços.
MAYRA: O problema é que credibilidade é um negócio que demora pra se construir no meio científico. E isso faz com que grupos mais antigos de pesquisa sejam vistos como mais confiáveis. O que pende a balança pra países que investem em ciência há mais tempo, como países europeus, ou que tem muito dinheiro investido nisso, como os Estados Unidos. Nessa, os grupos do Sul Global penam pra fazer suas descobertas serem aceitas pela panelinha do norte.
PEDRO: O Gabriel trouxe um exemplo bem ilustrativo de como essa influência no meio acadêmico pode interferir no desenvolvimento de novas pesquisas. Escuta só:
GABRIEL ROCHA: O Sahelanthropus, ele é tido como nosso ancestral mais antigo, o primeiro membro da nossa linhagem, ele tem sete milhões de anos. E o pesquisador que descobriu ele é um francês. Esse material foi publicado no início dos anos 2000 e ninguém pode fazer pesquisa com esse material. O crânio, ele tá guardado a sete chaves e tem relatos de pesquisadores que foram até a sala desse pesquisador francês, e na sala tinha réplicas de primeira geração. E as pessoas pediram para fotografar as réplicas. E isso não era permitido também, então existe um protecionismo muito forte com relação de: “Ah, esse é o meu fóssil, só eu vou publicar com ele, eu gastei muito dinheiro para conseguir isso, então ninguém vai tirar isso de mim.”
[CHAMADA ARTIGO 158]
MAYRA: Nosso segundo exemplo que ilustra essas disputas talvez seja o mais voraz de todos, no bom e no mau sentido. É a briga pra entender quem foram os primeiros humanos a ocupar as Américas. Quando eles chegaram, por onde chegaram, se foi um povo só, se foram povos diferentes chegando de maneiras diferentes.
PEDRO: Sobre isso, cabe bem a gente falar sobre a Niéde Guidón. Talvez você já tenha ouvido falar dessa arqueóloga franco-brasileira, e do trabalho da equipe liderada por ela desde a década de 1970 na região da Serra da Capivara, no Piauí, que lançou um monte de perguntas e ondas de choque do Sul para o Norte Global.
MAYRA: A Niéde é uma figura meio controversa, mas que é bem importante pra arqueologia brasileira. Isso porque os sítios onde ela trabalhou possuem indícios da ocupação humana há mais de 30 mil anos, um número meio subversivo pro atual consenso em torno da questão. Mas a gente vai ver que é ainda mais complicado que isso.
PEDRO: A atuação da Niéde foi muito valiosa pra criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, um patrimônio histórico da Unesco. Recentemente parece que ela também tá se transformando numa figura “pop” e virou o assunto principal do livro “Niéde Guidón: uma arqueóloga no sertão”, da jornalista Adriana Abujamra, publicado agora em 2023 pela Editora Rosa dos Tempos e tem também uma série de podcasts sobre ela pra sair em breve.
MAYRA: A saga da Niéde também foi o ponto de partida pro Bernardo Esteves, repórter de ciência da revista Piauí, escrever seu livro “Admirável Novo Mundo: uma história da ocupação humana nas Américas”, lançado agora em outubro de 2023 pela Companhia das Letras.
PEDRO: Uma das perguntas que essa e outras pesquisadoras vem tentando responder é de onde vieram os primeiros humanos que chegaram nas Américas. Uma das ferramentas usadas pra isso hoje são os testes genéticos, que compararam o DNA extraídos dos esqueletos desses primeiros habitantes com o DNA de populações de várias regiões do mundo, tentando achar com qual ele se parece mais.
BERNARDO: A genética tem um retrato de quem são esses que chegaram entre 16 mil e vinte mil anos atrás, né. Assim, cada vez mais a genética é um uma ferramenta muito importante para os estudiosos dos primeiros americanos, porque ela nos permite entender biologicamente quem são, né?
PEDRO: Eu conversei com o Bernardo pra um episódio da última temporada do Ciência Suja, que a gente vai citar mais adiante. Mas o que ele tá dizendo é que por mais que a genética seja uma ferramenta importantíssima pra gente entender as linhagens e o parentesco dos primeiros americanos, ela não tem todas as respostas.
BERNARDO: Mas ainda tem esse impasse né? Assim seja quem for esse grupo de primeiros americanos que a genética diz que entrou entre 16 e 20 mil anos atrás não são eles as pessoas que perfuraram os osteodermos de preguiça gigante em Santa Elina, porque aquilo tem mais de 20.000 anos, né?
MAYRA: Esses osteodermos são pedaços de ossos de preguiças-gigante que teriam sido manipulados por seres humanos há cerca de 27 mil anos. O impasse que o Bernado citou acontece porque eles são bem mais antigos do que o período que se acredita que os primeiros humanos teriam chegado no continente. E tem mais:
BERNARDO: Certamente esses não são os primeiros americanos, por mais antigos que eles sejam porque para eles estarem ali há 27.000 anos, eles tinham muito chão para percorrer, né? Tem milhares de quilômetros, seja do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico ou do da entrada da América Central, né? Enfim, certamente tinha um caminho longo a percorrer.
PEDRO: O discurso mais defendido hoje diz que os primeiros humanos chegaram numa janela de tempo conhecida como o Último Máximo Glacial, que é quando o trecho entre o Alasca e a Sibéria estava todo congelado e permitiria a travessia a pé entre os dois continentes, a Ásia e a América do Norte. Isso teria acontecido entre 16 e 20 mil anos atrás, como o Bernardo citou.
MAYRA: Esses objetos, os osteodermos, estão no centro de um estudo publicado em junho de 2023 por duas pesquisadoras brasileiras, na revista Proceedings of the Royal Society B. São ossinhos que foram furados e polidos. As pesquisadoras Mírian Pacheco e Thaís Pansani, que assinam o artigo ao lado de uma equipe que trabalha há décadas estudando o sítio de Santa Elina, chegaram a achar indícios de que eles foram deformados pelo uso contínuo, como se fossem brincos ou algum tipo de adorno suspenso.
PEDRO: Um dos problemas que os estudos da Niéde, da Mírian e da Thais enfrentam é a raridade de esqueletos preservados. É que existem uma série de questões físicas, relacionadas ao clima e à acidez do solo no Brasil. Elas dificultam a preservação desse material biológico. Então o estudo genético e morfológico desses nossos ancestrais só consegue ir até certo ponto.
MAYRA: E é por isso que as equipes na Serra da Capivara, e em outros sítios como Santa Elina, no Mato Grosso, acabam tendo que trabalhar apenas com indícios da ocupação humana, e esse caldo dá uma entornada ainda maior quando o negócio é estudar esse tipo de evidência.
PEDRO: Isso porque, sem os esqueletos, há sempre uma dúvida pairando no ar se esses objetos realmente foram manipulados por humanos. Por exemplo, restos de carvão podem indicar uma fogueira, mas também podem ser resultado de fogo natural. Ossos podem ter sido perfurados por humanos, ou pela ação do tempo. Por mais robustas que sejam as evidências, isso é adotar uma outra abordagem pra estudar o assunto, não mais ligada às características morfológicas ou genéticas da espécie em si, mas aos registros das ações e comportamentos desses seres humanos.
PEDRO: O que esse impasse diz pra gente é que, dependendo da abordagem, a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas sobre a ocupação humana nas Américas.
MAYRA: O fato é que esses osteodermos foram encontrados em sítios onde há evidências robustas de que havia ocupação humana, e eles foram muito estudados e datados, indicando que havia uma interação humana com a preguiça gigante, que é um animal da megafauna, que viveu durante o Pleistoceno, período que terminou há 11 mil anos. Nós falamos sobre isso no episódio número 50 do Oxigênio, ouve lá depois que terminar esse aqui. Vamos deixar o link na descrição no site. [https://www.oxigenio.comciencia.br/50-tematico-quem-matou-a-ultima-preguica-gigante/]
Mas vamos ouvir a Mirian Pacheco sobre como foi feita a pesquisa em Santa Elina.
MÍRIAN PACHECO: Foram feitos três tipos de datação diferente em três tipos de material diferentes. Que deixam a idade ali em torno dos 27 mil anos mesmo, então a gente conseguiu reunir evidências o suficiente para mostrar não apenas que os seres humanos trabalharam nesses ossos de preguiça, né? Nesses osteodermos enquanto a carcaça ainda não havia sido fossilizada
PEDRO: A Mírian Pacheco e a Thaís Pansani também foram entrevistadas pro episódio do Ciência Suja. Mas como a gente não entrou muito nessas especificações mais técnicas sobre datação por lá, a gente pediu pra Mírian explicar por áudio como foram feitas essas datações, e ela demorou um pouquinho pra responder – porque, né, correria de final de ano, ninguém merece – mas no fim respondeu com dezenas – sim, dezenas – de áudios muito detalhados sobre os processos de datação.
MÍRIAN PACHECO: Os materiais arqueológicos datados foram desde os ossos das preguiças gigantes, até microcarvões, associados ao que nós consideramos ser algum tipo de estrutura fogueira que foi construído ou realizado pelos seres humanos que ocuparam ali o Abrigo de Santa Elina…
MAYRA: Pros ossinhos e os microcarvões, foram usadas técnicas de datação por decaimento radioativo, usando carbono 14 e urânio tório, que a gente já explicou agora há pouco. Mas também teve outra coisa que elas estudaram:
MÍRIAN PACHECO: Fragmentos de quartzo, que é um tipo de mineral que pode ser encontrado tanto nos sedimentos, que formam os níveis arqueológicos, como em restos de materiais, de rochas que foram utilizados pelos seres humanos na pré-história pra confecção de ferramentas.
PEDRO: Pra esses grãozinhos de quartzo foi usada uma outra técnica: a datação por luminescência opticamente estimulada. É um nome bem complicado pra uma técnica que estima a última vez que aqueles grãos viram a luz do sol. E ainda assim, segundo a própria Mírian, todos esses tipos de datação vão apresentar algum tipo de erro ou limitação. Por isso que é importante aplicar todos os meios e técnicas disponíveis em todos os materiais e objetos disponíveis.
MAYRA: O fato é que, como a gente falou no início do bloco, são abordagens diferentes pra uma questão muito complexa e multifacetada. Tanto os dados genéticos quanto os arqueológicos têm suas limitações. Aquela analogia meio batida do arqueólogo com o detetive, que vai juntando peças de um quebra-cabeça complexo pra reconstruir o que aconteceu, não cabe exatamente aqui.
PEDRO: Não cabe porque a gente tá falando de evidências espalhadas por todo um continente, que se estende praticamente do pólo norte ao pólo sul do globo, e essas evidências são referentes a períodos que vão de 11 mil a pelo menos 27 mil anos atrás.
MAYRA: Se couber outra analogia, – e tão batida quanto, vá lá – talvez seja a de que a nossa compreensão sobre essa questão ainda tá só na pontinha do Iceberg. Ainda tem uma montanha de coisas pra, literalmente, desenterrar.
PEDRO: E nesse caso específico aqui, a gente tem divergências que, no final das contas, ajudam a montar esse quebra-cabeça. Inicialmente são partes distintas, até meio distantes desse enigma, mas que no futuro podem fazer sentido. Enquanto isso, essas divergências ajudam a gente a construir conhecimento científico. MÍRIAN: E a gente tem pontos fortes e pontos fracos nessas duas abordagens. Em algum momento da ciência essas abordagens Principalmente quando o cientistas que trabalham com a genética e os cientistas que trabalham mais com dado Arqueológico quando a gente começasse comunicar mais talvez a gente refine mais esses dados sobre a ocupação das américas
MAYRA: Mas tem outro tipo de divergência bem menos saudável em relação à ocupação humana nas Américas.
PEDRO: Por grande parte do século passado, imperou a visão de que um povo só foi o primeiro a chegar e o único a colonizar o continente, um paradigma conhecido como a “primazia de Clóvis”.
MAYRA: Esse paradigma levava o nome da cidade norte-americana de Clóvis, no Novo México onde os primeiros indícios dessa civilização foram encontrados.
PEDRO: E era uma ideia defendida com unhas e dentes, principalmente pelos pesquisadores dos Estados Unidos, e que certamente teve – e ainda tem! – um peso nas correntes pra descredibilizar o trabalho em sítios arqueológicos brasileiros como os da Serra da Capivara ou Santa Elina, por mais que ali possam existir problemas ou limitações nas abordagens. Pra você ter uma ideia, tinha até uma tropa de choque de pesquisadores conhecida como “a polícia de Clóvis”, que defendia esse paradigma como um dogma mesmo.
MAYRA: Mas essa parte da treta a gente deixa pro pessoal do Ciência Suja, que lançou o episódio “Achados, Roubados e Apagados” só sobre isso. Ele é parte da temporada especial deles sobre colonialismo científico. Se você ainda não escutou, fica mais essa a dica pra escutar depois de terminar esse aqui.
PEDRO: Mas resumindo: é importante aqui a gente conseguir separar o que que é polêmica saudável, que ajuda a ciência a avançar, do que muitas vezes é um problema profundo, um fato social que tem a ver com o contexto em que a ciência é produzida, mas que não tem lá muito a ver com a produção do conhecimento científico em si. Pensando nisso, a gente vai deixar aqui um último exemplo pra você entender como as ideias pré-estabelecidas podem acabar prejudicando o avanço científico quando são tomadas como verdade absoluta.
MAYRA: Um dos elementos utilizados pra definir a espécie humana é a capacidade de pensamento simbólico, que é a atribuição de significados abstratos pras coisas, e que pode estar por trás, por exemplo, dos pingentes feitos com os ossos de preguiça gigante que a gente falou. A gente vai trazer de volta o Gabriel Rocha pra falar sobre isso.
GABRIEL ROCHA: O pensamento simbólico, ele pode ser encontrado no registro arqueológico através de manifestações artísticas, por exemplo. Então as pinturas rupestres são exemplos de comportamento simbólico, as gravuras rupestres, ornamentação corporal, então colares ou pintura no corpo, e os enterros também vão entrar nisso, esculturas, então aquelas Vênus, as figuras de Vênus que a gente conhece. Todos esses são exemplos de comportamentos simbólicos.
MAYRA: Esses registros de comportamento simbólico começaram a ser achados e estudados especialmente na década de 80. Os materiais mais antigos tinham 45 mil anos e tudo indicava que esse tipo de pensamento só começou a existir a partir do momento que os humanos chegaram na Europa, afinal, era o único local de registro.
GABRIEL ROCHA: E é justamente a 45 mil anos que o Homo sapiens chega a Europa. Então a história que foi se formando é que o Homo sapiens, ele surge na África e ele passa aí seus 100, 150 mil anos no continente africano sem produzir comportamento simbólico, sem manipular símbolos. E a partir do momento em que ele sai da África, que chega à Europa essa espécie ela passa por o que eles chamam de explosão criativa do paleolítico superior.
PEDRO: A partir daí, vários artefatos, pinturas e gravuras passaram a aparecer por toda a Europa. Bom, se só existem esses registros lá, essa hipótese faz sentido, certo?
GABRIEL ROCHA: O grande problema que foi muito exposto por duas pesquisadoras muito importantes da área, num artigo excelente que ele é chamado de The Revolution That Wasn’t, a revolução que não ocorreu nos anos 2000, elas publicaram uma grande revisão mostrando que a gente não encontra nada no continente africano ou nos outros continentes porque a gente só tá olhando para Europa. Então o que elas mostraram é que o número de sítios arqueológicos conhecidos na Europa era absurdamente maior do que o número de sítios desconhecidos na África, então a gente não tava olhando para África, não tava pesquisando a África. E quando começam essas pesquisas, eles começam a achar. Então começam a encontrar na África coisas muito mais antigas do que 45 mil anos, começam a encontrar exemplos de gravuras, exemplos de produção de ocre para pintar o corpo, miçangas, colares. Eles começam a encontrar materiais com 80 70 130 Mil Anos 200 mil anos.Hoje a gente já tá falando aí de materiais com possivelmente 300 400 mil anos.
PEDRO: Ou seja, se a gente tivesse tomado como verdade absoluta o conhecimento pré-estabelecido a partir dessas bases eurocêntricas, a gente teria perdido milhares de anos de história da evolução humana. E o mesmo vale pros indícios de ocupação humana na América do Sul, que hoje a gente vê que são bem mais antigos do que se acreditava. Como e quando eles chegaram lá e vieram a ocupar o continente, a gente não sabe direito ainda, mas tem evidências fortes de que já tinha gente por aqui, vivendo e fazendo coisas, bem antes do que se imaginava.
MAYRA: Por isso, esses enfrentamentos são tão necessários para o avanço da ciência, porque garantem que estamos explorando todas as possibilidades e assim, diminuindo cada vez mais as brechas do conhecimento científico.
MAYRA: Esse episódio foi produzido roteirizado e apresentado por mim, Mayra Trinca
PEDRO: E por mim, Pedro Belo. A revisão é da Simone Pallone, coordenadora do Oxigênio. Os trabalhos técnicos são de Elisa Valderano e trilha sonora do Blue Dot Sessions.
MAYRA: O Oxigênio tem apoio da SEC – Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e do SAE – Serviço de Apoio ao Estudante.
PEDRO: Você encontra todos os episódios no site oxigenio.comciencia.br e também na sua plataforma de podcasts preferida. Procure a gente nas redes sociais. No Instagram e no Facebook você nos encontra como Oxigênio Podcast. Segue lá pra não perder nenhum episódio e obrigado por escutar!
21 December 2023, 6:21 pm - Série Fish Talk – Os peixes também sofrem – ep. 2
Você sabia que, assim como os humanos, peixes expressam comportamentos alterados – inclusive alguns bem complexos – quando estão sentindo dor?
Neste episódio, A mente do Peixe, Caroline Maia e João Saraiva falam sobre respostas comportamentais dos peixes quando estão enfrentando estímulos dolorosos.
O Oxigênio apresenta um novo podcast parceiro, o Fish Talk. Desta vez tratando de peixes. Isso mesmo, um podcast sobre peixes! The Fish Mind é um programa desse podcast com foco na capacidade que esses animais têm de sentir dor e experimentar outros estados emocionais. Vamos ouvir também sobre suas habilidades cognitivas nos episódios desse programa. A ideia é trazer essas informações importantes em um diálogo informal de poucos minutos. O programa geralmente é composto por episódios independentes, mas temas que precisam de mais aprofundamento são apresentados em mais de um episódio.
O Fish Mind faz parte de um projeto que é fruto de uma colaboração do Centro de Aquicultura da Unesp (Caunesp) no Brasil com a FishEthoGroup, uma associação sem fins lucrativos que trabalha em prol do bem-estar dos peixes, preenchendo lacunas entre a ciência e as partes interessadas no setor da aquicultura, entre eles: produtores, certificadores, comerciantes, ONGs, decisores políticos e consumidores. A entidade foi criada em 2018 e está sediada em Portugal.
Quem apresenta o episódio são a Caroline Maia e o João Saraiva, pesquisadores da Associação FishEthoGroup. A introdução do episódio foi feita pelo Luiz Henrique Queiroz Leal. A Elisa Valderano colaborou com a edição.
Conheça agora o The Fish Mind Programme e acompanhe todos os episódios, você vai descobrir muitas curiosidades sobre peixes!
Se não conseguir aguardar a publicação dos episódios pelo Oxigênio, vá direto ao site do programa: https://fishethogroup.net/whatwedo/dissemination/fishtalk/
4 December 2023, 11:17 pm - #173 – Série Cidade de Ferro – ep. 2: O maior buraco do mundo
FERNANDA:
ITABIRA
Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê.
Na cidade toda de ferro
as ferraduras batem como sinos.
Os meninos seguem para a escola.
Os homens olham para o chão.
Os ingleses compram a mina.
Só, na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável.
YAMA: Introdução – Em busca do Cauê
YAMA: É difícil encontrar o pico do cauê. Não a montanha, que sabemos, não existe mais. É que o local onde um dia houve um pico é difícil de encontrar. Subimos mirantes para ver se, do alto, dava pra ver o buraco. Sem sucesso, eu e Lucas rodamos de carro por um tempo considerável em companhia do google maps e de dois pares de olhos atentos. Subindo uma estrada estreita de duas pistas há vários sinais de que estamos dentro da Vale, mas nada de Cauê. Vejo os barrancos ferrosos se misturarem aos eucaliptos tão mais frequentes quanto mais alto subimos. Caminhões e máquinas pesadas. Lama, muita lama. Placas de segurança e placas urbanas. As placas colocadas pela Vale se abundam. A mais repetida não deixa dúvidas: propriedade privada da VALE SA, não ultrapassar. Invasão é crime! Outras, beiram ao cinismo, como a que vimos num pequeno morro com cinzas de queimadas: evite queimadas, preserve a natureza, sugere a placa da Vale.
Não muito distante dali o GPS informa: você chegou ao seu destino. Mas onde chegamos exatamente? À direita do carro, vejo lama, vejo florestas falsas e tristes. Trabalhadores da Vale, ou melhor, de suas terceirizadas, curiosos com a nossa presença. Estamos na cidade, em rua pública, mas a sensação é de que invadimos a mina. Distraído com tanta informação à direita, Lucas me chama a atenção. À nossa esquerda, ali está, milimetricamente escondido entre morros sobreviventes. A paisagem que dá nome ao lugar. O maior buraco do mundo.
As palavras se perdem. Já sabemos do que se trata, mas o queixo cai mesmo assim. É como visitar a lápide do pico, mas com o sentimento contraditório e incômodo de que é a nossa própria lápide também. Senti como nunca antes o significado de que cada de um nós tem seu pedaço no pico do cauê. Se as barragens chocam pela presença interminável da lama, o maior buraco do mundo dilacera por uma ausência incalculável. Um buraco aberto que exibe as entranhas da terra e nos mostra a grandiosidade de quase 100 anos de extrativismo desavergonhado.
Eu sou Yama Chiodi, jornalista do GEICT e esse é o segundo episódio da série Cidade de Ferro. Nesse episódio, tento recuperar de modo muito breve como as histórias de Itabira e da mineração de minério de ferro se entrelaçaram. E como seu cidadão mais ilustre, Carlos Drummond de Andrade, se tornou persona non grata por ser ferrenho crítico do que a mineração fez com sua cidade natal. Sigo esse episódio com Lucas Nasser, pesquisador e advogado itabirano, autor do livro “Entre a Mina e a Vila: violações de direitos em Itabira”.
YAMA: Na obra de Drummond há duas Itabiras… ou a transformação de uma Itabira em outra. E o pico do cauê é a alegoria perfeita para essa transformação. Não por acaso, o poeta o classifica como “Nossa primeira visão do mundo” na crônica Vila da Utopia – a mesma que nos dá a expressão “destino mineral”. Se a montanha era o mundo, sua pulverização catapulta a história poética da cidade a uma história de fim de mundo. De montanha a buraco. E se a montanha muda, a cidade muda. Se a montanha muda, a poesia muda.
Fica na memória uma cidadezinha pacata na qual se podia ver o Cauê imponente da janela de casa. E a memória se choca com a realidade. O século XX é para Itabira o momento histórico em que a cidade e a mineração se confundem, por força da violência e do extrativismo. Esse fenômeno foi aprofundado pela criação da Companhia Vale do Rio Doce. Depois de ser o centro minerário dos Aliados na segunda guerra mundial, Itabira se misturou cada vez mais a Vale. Quando chegou a privatização, não foi só a Vale que foi privatizada. A impressão que dá é que, sendo uma com a empresa, a cidade foi privatizada também.
A seguir faço brevíssimo sobrevoo sobre a história do ferro em Itabira, que introduz como cidade foi tomada pela mineração. Se você quiser aprofundar um pouco mais na história e nas conexões da obra do Drummond com a mineração eu vou deixar mais uma recomendação, além do livro do nosso convidado Lucas Nasser. É o Maquinação do Mundo, do José Miguel Wisnik, publicado pela Companhia das Letras. Do meu ponto de vista é uma obra-prima e o livro definitivo sobre as conexões entre mineração e a obra poética de Carlos Drummond de Andrade. Mas, por ora, seguimos.
YAMA: Primeira parte: Ferro à vista!
FERNANDA:
Zico Tanajura está um pavão de orgulho
no dólmã de brim cáqui.
Vendeu sua terra sem plantação,
sem criação, aguada, benfeitoria,
terra só de ferro, aridez
que o verde não consola.
E não vendeu a qualquer um:
vendeu a Mr. Jones,
distinto representante de Mr. Hays Hammond,
embaixador de Tio Sam em Londres-belle-époque.
Zico Tanajura passou a manta em Suas Excelências.
De alegria,
vai até fazer a barba no domingo.
YAMA: O que levou os olhos grandes coloniais a Itabira a princípio não foi o ferro, mas o ouro. Quando as Minas Gerais demonstravam sinais inequívocos de cansaço na exploração aurífera, o viajante francês contratado pela coroa portuguesa, Auguste de Saint-Hilaire, visitou várias cidades do interior mineiro para tentar encontrar novos pontos de interesse para exploração de minério. Passou oito dias em Itabira, ainda no período pré-independência, no primeiro quarto do século XIX, onde se assustou com o potencial de exploração minerária do local, que deu origem a sua famosa frase, abre aspas, “O ferro das montanhas de Minas Gerais pode de certo modo se considerar inesgotável”, fecha aspas.
LUCAS: É, acho que foi internacionalizada, primeiro com o Saint-Hilaire, põe a boca no mundo, terra à vista né? Mandou lá a carta do Pero Vaz de Caminha. Mas Itabira já teve, um pouco antes, essa época do Saint Iller passou, já tinha uma fábrica de ferro, mas não no registro industrial, era de fazer ferramentas, de uso doméstico, né, digamos assim.
YAMA: O ferro já estava ali, mas com outros propósitos, de escala muito menor. E, ainda assim, já atraía certo crescimento populacional. Mas é só na passagem do século XIX para o XX que a riqueza mineral itabirana coloca a cidade em risco. A ganância colonial que já fazia ameaças de tomar as montanhas nos tempos de Saint-Hilaire ganha outro formato, onde os ingleses radicados no Brasil trabalham lentamente por baixo dos panos.
LUCAS: E aí teve um congresso em Estocolmo, que apontava esse potencial geológico em Itabira.
YAMA: É recorrente entre historiadores e pesquisadores que o grande marco histórico que inaugura essa nova fase do ferro em Itabira é o Congresso Internacional de Geologia, realizado em Estocolmo em 1910, ao qual o Lucas se referiu. O congresso foi realizado por grandes empresas siderúrgicas europeias e estadunidenses e tinha por objetivo principal fazer um detalhamento exaustivo das reservas de ferro existentes no mundo.
José Miguel Wisnik diz que o diretor do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e um professor da Escola de Minas de Ouro Preto apresentaram no congresso um documento que mostrava de modo detalhado os lugares de Minas com maior potencial para exploração de ferro. Literalmente entregaram o mapa da mina do ferro brasileiro.
LUCAS: Inclusive depois desse período, alguns ingleses que moravam no Brasil, engenheiros que foram contratados pra fazer, por exemplo, a ferrovia que liga Minas a Vitória, né, eles compraram uma porção de terra gigantesca.
YAMA: A figura do inglês em Itabira é recorrente na poesia de Drummond. Não é por acaso que apenas um ano depois do congresso, a companhia inglesa Itabira Iron Ore Company recebeu autorização para funcionar no Brasil. O que se passou nos anos anteriores e nos anos subsequentes foi estarrecedor. Sabendo do verdadeiro valor das terras com seus morros e subsolos ferrosos, ingleses compraram quantidades gigantescas de terra no mato dentro a preço de banana. Os itabiranos vendiam sem saber o real valor de suas terras.
LUCAS: Enfim, ce tem esses engenheiros ingleses adquirindo essa propriedade de terra gigantesca, mas não só isso, né, eles fundam companhias no intuito de adquirir jazidas mesmo de minério. Inclusive, o pico do cauê nesse seminário internacional era a maior reserva do mundo. Maior jazida de ferro do mundo.
YAMA: Apesar da resistência política de vários setores da sociedade brasileira, em especial de intelectuais de esquerda como Drummond, a Itabira Iron Ore Company seguiria seu fluxo de práticas coloniais até o governo de Getúlio Vargas, quando o nacionalismo desenvolvimentista culminou na proibição das práticas e da subsequente nacionalização da exploração do ferro. No nacionalismo varguista, havia amplo apelo pelo fortalecimento da siderurgia nacional – o que nunca aconteceu para Itabira. Em 1938, saiu uma edição da publicação antifascista Revista Acadêmica, onde o poeta manifestou sua percepção das práticas coloniais do extrativismo da Itabira Iron.
FERNANDA: Então Itabira, o Brasil, vai acabar derretido em Birmingham, em Cardiff? Então os nossos duzentos anos de luta contra a pedra e contra o mato vão desaparecer diante da fria contabilidade do rude imperialismo internacional? A nossa velha cidade virá a ser, na perda completa de seus meios de produção, na fuga constante da sua riqueza, no seu progresso aparente mas cortado de espoliações, apenas um triste burgo colonial?
YAMA: A Itabira Iron Ore Company foi dissolvida em 1942. E essa data certamente não tem nada de casual. O ferro de Itabira colocou o Brasil na guerra pela emergência da empresa, agora nacional, que veio a se chamar Companhia Vale do Rio Doce. Estava inaugurada uma nova fase da exploração do ferro e um novo tipo de subserviência brasileira aos países ricos. Agora, por meio de acordos internacionais não cumpridos entre Estados Unidos, Inglaterra e uma grande empresa estatal.
FERNANDA: Desfile
As terras foram vendidas,
as terras abandonadas
onde o ferro cochilava
e o mato-dentro adentrava.
Foram muito bem(?) vendidas
aos amáveis emissários
de Rothschild, Barry & Brothers
e compadres Iron Ore.
O dinheiro recebido
deu pra saldar hipotecas,
velhas contas de armarinho
e de secos e molhados
Inda sobrou um bocado
pra gente se divertir
no faz de conta da vida
que devendo ser alegre
nem sempre é
YAMA: Segunda parte: A ferro e fogo
YAMA: O advento da Segunda Guerra Mundial se tornou a oportunidade apropriada para Vargas implementar seu plano de fortalecimento da siderurgia e da mineração nacionais. Isso se deu a partir de acordos costurados com Estados Unidos e Inglaterra. Do lado da siderurgia, o governo brasileiro conseguiu o empréstimo de 20 milhões de dólares do Eximbank para a implementação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941. Do lado da mineração, foram estabelecidos os chamados Acordos de Washington, que teriam como principal efeito a nacionalização das minas antes em posse da Itabira Iron e a criação da Companhia Vale do Rio Doce.
LUCAS: Itabira é o centro do acordo de Washington. Cê começa a ter esgotamento de produção de ferro da indústria armamentista e novamente o pessoal pega os estudos das maiores reservas de ferro do mundo e aí vai entrar Itabira e o pico do Cauê. Então o Getúlio dá uma canetada. Acaba com a gracinha dos ingleses. Nacionaliza tudo, mas, com base nesse acordo. E era o acordo da construção da Vale e da construção de uma siderúrgica, que depois vai virar a CSN.
YAMA: Os Acordos de Washington previam o empréstimo do dinheiro e da equipagem maquínica que supostamente tornariam a Vale do Rio Doce uma mineradora automatizada e moderna. Em troca, o Brasil forneceria minério de ferro exclusivamente a Estados Unidos e Inglaterra por um preço muito abaixo de mercado enquanto durasse a guerra. Itabira se tornou da noite pro dia um centro global por alimentar de ferro a indústria bélica da guerra e do plano Marshall. É nesse contexto que Drummond publica o livro que muitos consideram sua obra-prima. A Rosa do Povo foi escrito entre 43 e 45, por um poeta atônito diante dos horrores da guerra. Um dos poemas mais conhecidos do livro, América, observa a repentina globalização de sua cidade natal.
FERNANDA:
(…) As cores foram murchando, ficou apenas o tom escuro, no mundo escuro
Uma rua começa em Itabira, que vai dar em qualquer ponto da terra
Nessa rua passam chineses, índios, negros, mexicanos, turcos, uruguaios.
Seus passos urgentes ressoam na pedra,
ressoam em mim.
Pisado por todos, como sorrir, pedir que sejam felizes?
Sou apenas uma rua
na cidadezinha de Minas, humilde caminho da América. (…)
YAMA: As promessas dos Acordos de Washington, no entanto, não foram cumpridas. A começar pelo maquinário que não chegou. Mas também pelo fato de que Volta Redonda ficou com o protagonismo da Siderurgia e Itabira permaneceria para sempre como mera exportadora de ferro. Nem mesmo as compras garantidas do minério brasileiro foram cumpridas.
LUCAS: Depois a Vale vai ter maquinário numa segunda etapa, né? Inclusive parte desses acordos não é entregue o maquinário por parte da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então a Vale durante muitos anos se constrói e se consolida na base do muque e na base da exploração desses trabalhadores. Essa parte inicial dos Leões da Vale, que tinha muito acidente de trabalho inclusive, ela não é relatada. Não sei se vc vai lembrar, a gente conversou com algumas pessoas. Eles contam não contando, né? Tem uma questão lá que parece que todo mundo sabe o que está acontecendo, mas você não pode falar por ser receio de retaliação, por receio de ser taxado de ingrato, né?
YAMA: Lembro sim. E impressiona que em pleno 2023 ainda seja uma realidade. Mesmo depois da privatização. Isso que o Lucas tá falando é um fenômeno super interessante e complexo. Ao mesmo tempo em que a Vale do Rio Doce fazia crescer a precariedade de Itabira com seu extrativismo, a cidade ficava cada vez mais refém da empresa, a ponto de se misturar com ela.
LUCAS: Existe uma Itabira antes e depois da Vale, né? Mas ela entra nas entranhas, a Vale viveu visceralmente Itabira. A cidade acaba se tornando a Vale e a Vale se tornando Itabira.
YAMA: Nesse contexto, a Vale chegava inclusive a ser chamada de “Mãe Doce” por parte da população. Tem por partes dos itabiranos uma gratidão que tem tudo a ver com processo de dependência entre a empresa e a cidade. É claro que à medida que o tempo passa essa adesão se enfraquece e as críticas se abundam. Mas a defesa à empresa ainda é muito palpável. Transformando profundamente a realidade local, Itabira parecia estar sempre atenta a seu potencial e às promessas grandiosas de um futuro de abundância construído à base da exploração do ferro. Mas o extrativismo não pede licença para nada. E o progresso prometido é uma eterna promessa, que nunca chega.
LUCAS: De extrair, quando a gente fala desse extrativismo, é de várias ordens. Não é só esse extrativismo econômico. Tem um extrativismo que é também ontológico. Ce impõe outro modo de vida ao local. O Drummond faz uma síntese disso em alguns poemas, mas é só pra gente ter um parâmetro.
YAMA: O que o Lucas chama de extrativismo ontológico é esse processo que transforma a cidade numa outra coisa. A cidade que havia vai sendo apagada pra se reduzir paulatinamente ao extrativismo ele mesmo. O pico do Cauê se torna um símbolo inexorável dessa transformação… à medida que a montanha vai deixando de existir, a cidade é cada vez mais Vale e cada vez menos mato dentro. E é esse processo que desperta o desgosto e a crítica do Drummond à gigante estatal. Especialmente nas primeiras décadas de existência da empresa, as críticas do poeta aliadas ao fato de que morava no Rio de Janeiro o tornaram uma espécie de persona non-grata em Itabira. Era como se fosse um filho ingrato, que virou as costas para suas origens, quando virar as costas para a Vale era o mesmo que virar as costas para a cidade.
Em tese, Carlos Drummond de Andrade sabia da retirada massiva de ferro para a guerra. Mas saber e ver com os próprios olhos faz toda diferença. Por ocasião do enterro de sua mãe, no ano de 1948, vai a Itabira uma última vez na vida, de avião, e vê com a visão privilegiada das alturas a força do extrativismo. Ao ver as entranhas da terra e o início do fim do Pico do Cauê, percebeu cedo que o progresso prometido pela nacionalização da Itabira Iron não chegaria nunca. Há um poema de Drummond que foi muito lembrado à época das tragédias de Mariana e Brumadinho, que mostra quão adequadas e premonitórias eram as previsões críticas do poeta. Refiro-me à Lira Itabirana.
FERNANDA:
I
O Rio? É doce.
A Vale? Amarga.
Ai, antes fosse
Mais leve a carga.
II
Entre estatais
E multinacionais,
Quantos ais!
III
A dívida interna.
A dívida externa
A dívida eterna.
IV
Quantas toneladas exportamos
De ferro?
Quantas lágrimas disfarçamos
Sem berro?
YAMA: Engana-se quem pensa, contudo, que a poesia anti-extrativista não arrancava reações da gigante estatal. Em plena ditadura militar, em 20 de novembro de 1970, a Vale publicou um anúncio grande no jornal O Globo. Uma grande frase no topo da peça não deixa dúvidas sobre seu espírito revanchista: Há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. Com a imagem de uma pedra de minério de ferro, o anúncio comemorava a marca de 20 milhões de toneladas de minério de ferro exportadas pela empresa.
O anúncio coincide com o lançamento do chamado “Projeto Cauê”, que, ironicamente, decretaria o fim do pico que lhe dava nome. O projeto marcou uma nova escala na automatização da britagem e peneiramento, que cercou o morro e abriu as portas para o extrativismo desenfreado. Como na poesia, a montanha foi pulverizada. É importante lembrar do projeto cauê para que nos lembremos de que o fato de à época ser uma empresa estatal, não diminui o impacto ambiental e social do extrativismo.
LUCAS: Tem um teórico que chama Eduardo Gudynas, que pesquisa extrativismo. Ele fala que extrativismo continua sendo extrativismo, né? O que acontece no caso dela ser estatal é que ela é socialmente compensada. Cê tem uma pequena parcela que vai ser convertida em alguns direitos sociais no caso da Vale, por exemplo. Por isso que muitas vezes movimentos sociais criticam de falar de mineração predatória. Porque se tem mineração, ela vai ser predatória.
YAMA: A privatização que fez a Vale do Rio Doce virar só Vale, parece ter aprofundado seus processos extrativistas, com a diferença que, agora, o que havia de retorno social é pulverizado junto com o que restava do Pico do Cauê.
Terceira parte: Cidade à venda
YAMA: Se a Vale do Rio Doce virou Itabira e vice-versa no pós-guerra, a pulverização do Pico do Cauê é também símbolo da centralidade da cidade para a empresa. O Projeto Cauê parece ter sido o último suspiro no qual Itabira ainda era o centro da mineradora. Com a privatização de 1997, dez anos após a morte de Carlos Drummond de Andrade, a empresa se internacionalizou e a cidade natal do poeta virou um pontinho, uma nota de rodapé, um mito de origem de uma das maiores mineradoras do mundo. Se houve um momento em que Itabira e Vale de fato se tornaram uma, a impressão que fica é que a privatização da empresa foi também a privatização da cidade. Como sintetizou brilhantemente José Miguel Wisnik:
LUÍS: A cidade, acoplada simbioticamente a essa potência nascida das suas entranhas, vive na dependência econômica e política dos ditames da companhia, sem ter se beneficiado, nem de longe, de um retorno correspondente ao gigantismo da empresa que gerou. A inusual promiscuidade de origem do sítio minerador com núcleo urbano acarreta um impacto ambiental que se traduz em altos níveis de poeira de ferro em suspensão, imóveis afetados pela dinamitação das rochas e assoreamento das fontes de água. Longe de ser reconhecida como vítima de uma intrusão abusiva, é a cidade que é posta, na prática, no lugar de intrusa, no momento em que bairros construídos sobre veios de minério de ferro são obrigados a se deslocaram para permitir a continuidade da exploração até o esgotamento total do estoque (WISNIK, 2018, p. 120-121).
YAMA: Quando o Wisnik fala que a cidade que parece ser a intrusa para a mineração passar, é uma coisa que fica muito claro quando relembramos a memória dos bairros deslocados e destruídos pela mineração – assunto do próximo episódio da série. Mas voltando à Vale, é publicamente notório que a privatização da Vale do Rio Doce foi, no mínimo, muito polêmica. Dentre os muitos motivos para se questionar seus processos, talvez o mais relevante seja o método utilizado para calcular seu valor. Calculado a partir do preço mínimo por ação, o valor de 10,36 bilhões estipulado pelo governo FHC foi, mesmo à época, fortemente questionado. Entre outros motivos, críticos apontavam que foi levado em conta o valor da empresa, mas não das reservas minerais que acabaram sendo privatizadas em conjunto. Voltando a Itabira, contudo, vemos que na prática a cidade se tornou ainda mais dependente da Vale, com a diferença que, agora, sua importância era muito pouca diante do grande conglomerado internacional que a empresa se tornou.
LUCAS: E com isso o que que isso vai afetar na lógica local de Itabira. Primeiro que vai perder o nome de Rio Doce, que era algo que transformava ela numa questão legal. Vc tenta internacionalizar, vc tenta dissociar essa marca, vira só Vale. Muda as cores, né? A Vale tinha uma cor de terra, né? Que é o minério né? Uma alusão ao minério. Ela passa a ter uma cor verde de sustentabilidade e o amarelo do Brasil. (…) você passa a ter muito mais acidentes do trabalho e um aprofundamento da precarização do trabalho, e isso aí, tem vários estudos que demonstram isso, né? A vulnerabilidade do trabalhador terceirizado. Então você tem várias empresas que prestam serviço pra Vale. A vale quase não faz atividade fim hoje, ela é praticamente uma gerente.
YAMA: O Lucas também me contou que no processo de privatização o direito adquirido, presente na nossa constituição, foi totalmente relativizado. Os trabalhadores perderam direitos e a constante terceirização dos serviços prestados à mineradora precarizou o trabalho e precarizou a cidade – ainda muito dependente das vagas de emprego em torno da mineração, ainda que hoje sejam uma fração do que foram um dia. Em suma, se os problemas do extrativismo minerário e ontológico marcaram a história da Vale desde os seus primeiros suspiros itabiranos, a Vale S.A. o elevou a outro nível, tratando como refugo de menor potência a cidade que um dia foi sua galinha dos ovos de ferro. O progresso prometido nunca chegou. Ficou o pó de ferro.
FERNANDA:
A montanha Pulverizada
Chego à sacada e vejo a minha serra,
a serra de meu pai e meu avô,
de todos os Andrades que passaram
e passarão, a serra que não passa.
Era coisa dos índios e a tomamos
para enfeitar e presidir a vida
neste vale soturno onde a riqueza
maior é sua vista e contemplá-la.
De longe nos revela o perfil grave.
A cada volta de caminho aponta
uma forma de ser, em ferro, eterna,
e sopra eternidade na fluência.
Esta manhã acordo e
não a encontro.
Britada em bilhões de lascas
deslizando em correia transportadora
entupindo 150 vagões
no trem-monstro de 5 locomotivas
— o trem maior do mundo, tomem nota —
foge minha serra, vai
deixando no meu corpo e na paisagem
mísero pó de ferro, e este não passa.
YAMA: Na terceira parte dessa série, eu interrompo por um instante a conversa com a poesia drummondiana e falo com o Lucas Nasser sobre aquilo que foi o centro do seu livro: o impacto da mineração nas remoções forçadas duas vilas itabiranas, Explosivo e Vila Paciência.
Antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de divulgar o pedido dos cidadãos de Moeda, Minas Gerais. Moeda é mais uma das cidades mineiras sendo consumida pela mineração. Na descrição se encontra um link para um vídeo, que é um pedido de socorro. Os impactos da mineração não acabam. A destruição do extrativismo é só o começo do que vai virar barragem de rejeito depois. É hora de lutar para que Minas Gerais não se torne, por força do extrativismo, Barragens Gerais num futuro próximo.
Este episódio foi roteirizado e produzido por mim, Yama Chiodi. A revisão foi da coordenadora do Oxigênio, Simone Pallone. Quem narrou as poesias do Drummond foi a Fernanda Capuvilla e quem conversou comigo foi o Lucas Nasser. O Luiz Leal do Artigo158 foi quem narrou a passagem do livro do José Miguel Wisnik.
A edição do áudio foi feita pela Elisa Valderano. O Oxigênio é um podcast produzido pelos alunos do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e colaboradores externos. Tem parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e apoio do Serviço de Auxílio ao Estudante, da Unicamp. Além disso, contamos com o apoio da FAPESP, que financia bolsas como a que me apoia neste projeto de divulgação do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o GEICT.
A lista completa de créditos para os sons e músicas utilizados você encontra na descrição do episódio.
Você encontra todos os episódios no site oxigenio.comciencia.br e na sua plataforma preferida. No Instagram e no Facebook você nos encontra como Oxigênio Podcast. Segue lá pra não perder nenhum episódio! Aproveite para deixar um comentário.
Aerial foi composta por Bio Unit; Documentary por Coma-Media. Ambas sob licença Creative Commons.
Ambos os sons de trens utilizados nesse episódio foram feitos por Sandro Lima e são livres para uso.
Os sons de rolha e os loops de baixo são da biblioteca de loops do Garage Band.
Livro do Lucas Nasser: Entre a vila e a mina violações de direitos
Baixe gratuitamente em: https://experteditora.com.br/entre-a-vila-e-a-mina/
9 November 2023, 8:49 pm - # 172 – Quanto custa essa alface?
Você sabe o que é Economia Solidária, e quais os princípios desse modelo de produção, consumo e distribuição de riqueza mais justo? Neste episódio, Karina Francisco e Wesley Bastos apresentam dois projetos de comercialização de alimentos que são dois bons exemplos. Para isso eles conversaram com os associados – como são chamadas as pessoas que atuam nos projetos – Karina Morelli e Nielsen Felix, do Instituto Candombá, de Campinas, e a Juliana Brás Leblanc, do Projeto Chão, de São Paulo. Eles ouviram também a produtora Marina, de São José do Rio Pardo, que conta quais as vantagens de ser parceira em projetos como esses.
______________________________
ROTEIRO – Quanto custa essa alface?
Som de porta do carro batendo, entrando na loja com a música tocando, fim de conversa com um outro consumidor. Bom dia.
NIELSEN FELIX: Muito obrigado pela visita do senhor, uma boa tarde!
KARINA FRANCISCO: Olá, bom dia!
KARINA MORELLI: Você já conhece o projeto, né?
CLIENTE DA LOJA: Oi, tudo bom? Eu nunca vim, mas meu marido já veio.
KARINA MORELLI: Ah, tá! A gente é uma associação sem fins lucrativos. a gente tem uma política de transparência. Todos os meses a gente publica todos os nossos gastos e o que a gente recebeu naquele mês. Todos os produtos estão sendo vendidos ao que eles custam pra nós. Então, tem só o que a gente pagou na nota fiscal, mais o frete, mais um pequeno percentual de perda. Pra gente poder se manter, a gente pede uma contribuição na hora da compra, que não é obrigatória, mas é necessária porque se ninguém pagar a gente fecha e hoje o que a gente tá falando é que a gente precisa de 30% em cima do preço do produto.
CLIENTE DA LOJA: Ah, semelhante ao que faz o Chão.
KARINA: Isso mesmo.
KARINA FRANCISCO: Olá! Eu sou a Karina e o que você acabou de ouvir é um pouco do cotidiano do Instituto Candombá, uma associação sem fins lucrativos, autogerida e baseada na Economia Solidária.
WESLEY: Oi, eu sou Wesley e, junto com a minha colega Karina, peço licença pra falar de economia solidária e alface. Pois é. Nas folhas de uma simples alface a gente vai ler uma história que está sendo escrita aqui, agora, em diversos empreendimentos de economia solidária, como é o caso do Instituto Candombá, que vamos conhecer a seguir.
VINHETA OXIGÊNIO
KARINA: Imagino que pra se alimentar você costume ir ao mercado, né? Comprar macarrão e tomate pra fazer o molho, comprar a alface pra salada. Mas… você conhece a origem dos produtos que adquire? Sabe de onde veio o tomate? E a alface? Eu tenho ainda outras perguntas. Você sabe qual é a margem de lucro do mercado que compra essa alface do produtor? Tem amizade com trabalhadores desses locais em que costuma comprar?
WESLEY: A gente tá perguntando isso porque são esses e outros questionamentos que instituições baseadas em Economia Solidária fazem questão de explicar. Economia solidária é uma forma de produção, consumo e distribuição de riqueza centrada na valorização do ser humano, e não do capital.
CLIENTE 2: E esses produtos aqui, GoGreen, Boaterra, o que seria isso?
NIELSEN: Em todas as nossas gôndolas aqui, você sempre vai ver o nome do produto, o preço e quem é o produtor do dia, que está expondo. Lembrando que nosso preço costuma variar bastante porque cada produtor pede [um valor], e a gente vende por aquele preço que o produtor está pedindo.
KARINA FRANCISCO: Iniciativas como o Candombá surgiram para ser uma alternativa de compra com maior transparência e consciência. Nielsen e Karina Morelli, associados do Instituto Candombá, explicam um pouco mais o que é tão diferente em sua mercearia.
NIELSEN: Durante o dia funciona como um mercado normal, né? Como eu disse. O que diferencia a gente é, a clareza que a gente tem nas ideias com os clientes. Eu acho que um diferencial que a gente tem também é a pessoa poder entrar aqui e ela conseguir enxergar outras coisas que no mercado comum ela não enxerga, que são os custos, a questão da transparência, a questão de conhecer quem são os fornecedores dos nossos produtos.
KARINA MORELLI: Todos os meses a gente divulga o que a gente ganhou e o que a gente gastou. Então a gente divulga os nossos gastos e os nossos recebimentos. Os produtos são vendidos ao preço só do custo dele. Está no preço da prateleira, só o que a gente pagou pelo produto, mais o frete, mais um pequeno percentual de perda. Ou seja, no valor que o produto tá na prateleira ainda não tem tudo aquilo que precisa para gente sustentar o projeto. Então ali naquela alface que tá exposta por um determinado valor, ainda não tá minha água, minha luz, meu aluguel, a remuneração dos associados. Então para sobreviver a gente pede uma contribuição que ela é voluntária. Mas ela é necessária porque se ela não existir, a gente não funciona.
WESLEY: No preço de custo que está exposto, e na contribuição sugerida ali, na hora de pagar pelo produto, o consumidor é convidado a conhecer essa cadeia que começa no produtor, passa pelo armazém e chega na mesa.
KARINA FRANCISCO: Falando em produtor, a gente também conversou com a Marina, agricultora agroecológica do Aroeira,que é de São José do Rio Pardo e tem parceria com o Instituto Candombá. Ela confirma que a iniciativa e a forma como os produtos são comercializados é extremamente vantajoso pro produtor, além de ser mais justo.
MARINA: Hoje eu diria que é o melhor modelo de comercialização de produtos orgânicos. Por quê? Primeiro que o mais importante e o principal, eu diria, que é a sazonalidade. Porque eu consigo comercializar de fato aquilo que eu tenho na terra (…) Então ter um lugar onde eu possa ofertar o produto que está na época certa, de acordo com a natureza, o melhor que eu possa oferecer, para mim é o melhor modelo. A segunda coisa que é muito importante nesse modelo de comercialização é o que é justo.Hoje eu consigo estar ligada direto ao consumidor através do Candombá, que ele saiba qual é o meu produto e o quanto ele realmente vale. E no caso do Candombá, é um modelo totalmente humano e verdadeiro. Porque aquilo que está sendo ofertado, primeiro que é o melhor que eu posso dar para a pessoa e o segundo que é o mais justo, porque é o que eu considero o que é o melhor para mim, para o meu negócio. Então o consumidor, ele realmente está contribuindo com o meu negócio integral, não tem ninguém atravessando a gente.(…) Você não tem um mercado explorando o produtor, explorando o consumidor. Ele está sendo justo em toda a cadeia.
KARINA: E quais produtos Institutos como o Candombá vende? Um pouco de tudo. Desde legumes, frutas e verduras até laticínios, farináceos e produtos de limpeza. A prioridade é para agricultores familiares e produtos com certificação.
BG – SONORA CANDOMBÁ: Eu reparei que esse produto é de agricultura familiar, qual seria a diferença? A Karina conta pra gente.
KARINA MORELLI: E é essa a proposta. Que a gente consiga trazer os orgânicos de uma maneira mais acessível para as pessoas, aí a gente garante no mercado de escoamento para o pequeno produtor. Ele permanece no campo trabalhando sem agrotóxico e a gente vai construindo aí uma cadeia solidária, onde todo mundo se beneficia desse modelo de negócio.
WESLEY: Vamos falar sobre esse modelo de negócio. O Candombá é um Instituto incubado pelo Chão, um outro mercado baseado na Economia Solidária, que fica em São Paulo, e já está operando há 8 anos. A Juliana Brás Leblanc, associada do Chão, contou pra gente um pouco do porquê de fazer um mercado diferente.
JULIANA B. LEBLANC: Bom, eu acho que uma das premissas, e quando o Nielsen fala de economia solidária, eu acho que tem dois pontos né. Um deles é o fato de que não tem lucro, de que não tem exploração do trabalho então, né? Quando eles abrem, quando eles dizem, né? E lá no Chão também, que é a inspiração do Candombá, a gente diz que a gente abre os nossos custos e a gente vende o produto pelo custo dele, né e separa o custo do produto do custo da venda, né? A gente tá primeiro mostrando para as pessoas quanto as coisas custam e outra a gente não tá embutindo nosso valor de trabalho no valor do trabalho do produtor. Se ele tá me dizendo que ele precisa vender aquele produto por R$ 2, é porque ele para ele continuar fazendo aquilo e pagar as contas dele, ele precisa pagar, ele precisa receber aquele valor.
KARINA FRANCISCO: Para Karina, Nielsen e Juliana, é importante separar o valor do custo do produtor do custo da venda, para que as coisas não se sobreponham. Sobre isso, o professor da UFSCAR, Joelson Carvalho, fala da importância da economia solidária dentro do modelo de consumo que vivemos.
JOELSON CARVALHO:Percebem então [que] entender preço justo é entender o valor do trabalho, entender relações de trabalho é falar da importância do trabalho autogestionário coletivo e cooperado.
Então, quando a gente imagina uma cooperativa dividindo tudo aquilo que ela é de maneira democrática de maneira negociada de maneira horizontal tudo aquilo que é produzido em termos de lucro ou mesmo uma outra palavra não muito capitalista em termos de faturamento. A gente tá numa iniciativa alternativa ao capitalismo (…)
Então hoje é uma realidade internacional (…) Mas falando no caso brasileiro é uma realidade que é conhecida nacionalmente mapeada por institutos de pesquisa transcende que o consumo está no consumo está na distribuição está na produção economia solidária, não é Apenas a feirinha (em que pese nós amamos as feiras de economia solidária), mas ela também é rede de consumo solidário articulações de circuitos curtos de comercialização produção e Distribuição de diversas mercadorias e ela é conhecida e reconhecida institucionalmente
WESLEY: Que o lucro não é a finalidade de um empreendimento de economia solidária, a gente já entendeu. Mas afinal, o que está em jogo?
JULIANA: A proposta é… e a proposta da economia solidária é um pouco essa né? Um pouco, não. É essa! de que a gente ponha no centro do fazer econômico, porque economia na verdade é a gestão dos recursos, né do mundo da sociedade. Isso é economia é como que a gente faz a gestão da riqueza para todo mundo sobreviver. Esse é o mundo econômico, só que a gente põe no centro do mundo econômico acumulação, como se o fim da economia fosse poupar fosse sobrar dinheiro, fosse acumular não fim da economia é o bem-estar das pessoas. Então eu ponho as pessoas no centro do fazer econômico.
NIELSEN: a gente se sente aqui como cuidando da vida das pessoas cuidando da família das pessoas. Isso é muito gratificante.
A gente tem um produtor aqui que ,o nome dele é Marcelino, que as pessoas vêm toda quinta-feira aqui, “o Marcelino já chegou?”” já tem o brócolis do Marcelino?” Sabe? Como é importante essa valorização. Então eu acho que a economia solidária me trouxe muito isso aí sabe, a valorização das pessoas.
JULIANA: Essa experiência de produzir economicamente de uma outra forma, né? Eu acho que a economia solidária tem essa junção entre o político e o econômico, né? Que é enquanto você está produzindo economicamente de um outro jeito, você também tá pondo a discussão da participação da política, né da busca pela transformação enquanto você tá fazendo aqui, né? Não é uma proposta que fica abstrata assim então quando eu encontrei o chão eu falei nossa, é aqui que eu quero ficar.
WESLEY: O Instituto Chão e o Candombá são alguns exemplos de como produzir economicamente de uma outra forma, unindo a política com a economia de uma maneira solidária. É sobre se importar em conhecer quem planta, colhe e distribui o produto que você consome.
KARINA FRANCISCO: Mas isso não quer dizer que não há desafios pelo caminho. Afinal, como os consumidores acabam olhando esse modelo e como eles entendem isso? Novamente recorremos às explicações do professor Joelson.
JOELSON: Este é um modelo, te garanto que não é o modelo mais usual, mas ele é um modelo muito interessante, porque ele atravessa a relação econômica com uma relação de solidariedade, né? Com relação de que na medida em que eu posso ou não contribuir, eu opto pela contribuição voluntária no valor que eu acho que eu consigo viz a viz aquilo que a gente entende que o Instituto precisa nesse modelo. Ele é super interessante, mas encontra certas dificuldades naturais. O consumidor não necessariamente está envolvido com a economia solidária. E se ele não estiver envolvido com a economia solidária, entender o papel daquela voluntária colocação de dinheiro a mais, particularmente ele compromete esse sistema.
WESLEY: Segundo os relatos do instituto Chão e do Candombá, o trabalho de formiguinha de apresentar o seu modelo de negócio tem sido bem recebido pela população de São Paulo e Campinas.
KARINA FRANCISCO: Outro desafio apontado pelos associados é a própria autogestão. A comunicação constante, as tomadas de decisões e sua participação em diversas frentes do projeto, são várias atividades que exigem comprometimento e aprendizado constantes.
WESLEY: Afinal, as pessoas que limpam, arrumam prateleira e recebem entregas são as mesmas que definem as estratégias de compra, lidam com as burocracias e ficam no caixa. Todo mundo tem funções essenciais e importantes no projeto, assim como voz nas decisões, sem hierarquias.
JULIANA: por exemplo a ideia de ser passado para trás, de que uma relação econômica é uma relação de ganho e perda, né? Que alguém sempre perde, né? Você construir com as pessoas de que não, de que não é sobre isso, tanto com quem compra como no âmbito do trabalho internamente. Por que eu acho que aquela pessoa tá dizendo aquela coisa? É um ambiente de competição, é um ambiente de “quem sabe mais, leva mais, ganha mais, vai mudar de cargo”, né? A gente foi criado um pouco nessa cultura.
KARINA FRANCISCO: Mas é possível pensar um mercado em economia solidária sem que haja competição ou concorrência?
JOELSON: É a primeira coisa é fazer com que as pessoas dentro da economia solidária olhem para os outros e não vejam competidores e sim colaboradores e não no sentido dos colaboradores empresariais é que olhe para o outro e veja um parceiro em potencial mesmo que ele produza o mesmo que você.
WESLEY: E é exatamente esse o esquema do Chão e do Candombá. No caso do segundo, como vai nos contar a Karina Morelli, vários produtores colocam seus produtos no mercado, em diferentes dias da semana. Uma curiosidade é que muitas vezes o valor de um mesmo produto é diferente.
KARINA MORELLI [36:53 – 37:30] Então, o Marcelino vem na quinta e traz alface, Boa Terra vem ali de Casa Branca e entrega no domingo. Então segunda-feira é alface de Casa Branca, sexta-feira é alface do Marcelino. Aí vem o Aroeira na terça, quarta tem alface do Aroeira. É o que a Ju falou, a gente põe o preço que o produtor fala né? A gente traz o portão grande. Então, alface do portão grande é 3,22, a alface do Aroeira é 3,30, alface do Marcelino outro dia tava 2,97. E aí a pessoa vem aqui falar. Nossa, mas mudou o preço? Mudou, o preço é o preço que o produtor falou.
NIELSEN: se a gente vende 60 pés de alface na semana, tá? E um número que a gente tá supondo. Se a gente vende 60 pés de alface e a gente tem três produtores, a gente vai pegar 20 de cada e vai distribuir de acordo durante os dias da semana. Mesma coisa rúcula, tudo é dividido entre os mesmos produtores, a gente procura sempre pegar um pouco de cada para estar ajudando toda essa rede. Nunca tudo de um só.
JOELSON: Quanto deve custar alface? o valor necessário para que as pessoas continuem plantando alface e o valor necessário para que o comércio continue vendendo a alface, não esquecendo de remunerar o transporte.
Qual é o valor da alface? esse que remunera toda a cadeia produtiva de maneira humana e justa. Mas isso não encarece muito produto? Depende, depende.
JULIANA: O mestrado profissional de uma instituição que chama IP fez para gente que eram 30 estabelecimentos comerciais da zona oeste de São Paulo e pegaram grandes mercados pequenos mercados médios mercado feira orgânica feira convencional e dentro dos mercados convencional e orgânico. E aí na hora que faz essa aparece a média dos preços a gente fica muito próximo do convencional da feira que seria aquilo que seria o mais barato. E aí bom, mas por que que então fica mais barato sim, porque a gente não valor que não seja o custo de fazer essa transação toda essa transação toda não precisa ter uma sobra não precisa tirar nada além do que ela custa. Eu preciso que ela aconteça. Então não é que fica mais barato que fica mais justo.
Pensando aí muito especificamente na dimensão do que a gente vende, né dos produtos orgânicos agroecológicos da Agricultura Familiar esse mito de que é mais caro, né? Tem um mito mas que não é um mito também é um projeto em disputa porque tem uns que querem que seja um nicho de mercado caro e tem os que querem que seja comida boa para todo mundo alimento saudável para todo mundo
WESLEY: Uma das formas de baratear, ou como bem observa a Juliana do Chão, de tornar o preço justo é, além de não embutir lucro, enxugar o custo de logística ao priorizar os produtores regionais.
KARINA FRANCISCO: As pessoas que aqui falaram acreditam muito no processo de transformação da sociedade para um lugar com mais confiança, distribuição justa e de relacionamentos. O espaço acaba se tornando um lugar para trocar histórias.
KARINA MORELLI: Tem histórias muito legais assim. A gente sempre pergunta, né no caso você já conhece o projeto, né? Aí a pessoa falou assim, eu conheço o projeto, frequento aqui, eu procuro comprar tudo aqui com vocês, porque eu gosto muito de vocês. Outro dia veio uma senhora que falou que tinha se aposentado, não tinha mais ânimo de sair de casa e agora alegria dela era vir toda semana no Candombá, porque ela acreditava muito no projeto.
WESLEY: E não é só acreditar, como disse a Karina Morelli Quem vai até o instituto Candombá dá de cara com o balanço financeiro inteiro do projeto, tudo escrito à giz, numa lousa enorme. Essa transparência convida os consumidores a também se tornarem questionadores.
KARINA MORELLI: tem outras pessoas que questionam né e dizer assim, mas por que o preço né? Por que que esses 30% já não tá embutido no produto, né? E aí a gente explica: não, é exatamente essa proposta. A gente quer trazer esse questionamento, a gente quer colocar ali, a lousa, mostrando os gastos e mostrando os custos, né? A gente quer trazer para todo mundo quanto as coisas custam e como é que isso funciona.
WESLEY: E nem sempre esses questionamentos e desconstruções são fáceis para quem está comprando um produto. A Juliana trouxe uma história para exemplificar.
JULIANA: Outro dia foi uma mãe com uma filha e aí ela falava assim ai, “mas por que que vocês não põe logo essa contribuição no preço do produto?” Daí a gente falou: “bom, mas é para você sempre pensar porque que você tá deixando ou não”. Ela falou assim, “acho um saco” aí a filha falou “mãe! Você preferia não saber quanto as coisas custam?” ela falou “eu preferia! eu preferia não saber” aí a filha falava assim “mãe, mas que vergonha!” e aí ela falava assim” não, Ai, não, é muito difícil”. E aí mostrando a dificuldade dela, né?
KARINA FRANCISCO: Essas perguntas também são feitas por quem pesquisa a economia solidária. Joelson nos conta que, sobretudo na pesquisa de ponta e na extensão universitária, há um campo fértil não só para entender os comos e porquês, mas para colocar o conhecimento em prática.
JOELSON: Na pesquisa de ponta de preferência na extensão Universitária e é essa janela que nos anos 90. Essa janela nos permitiu criar uma rede de pesquisadores e pesquisadoras de diversos níveis oriundos da universidade e a partir da universidade para montarmos algo que nós, naquele momento e até hoje esse é o nome, chamamos de ITCPs. O que são as ITCPs? De maneira bastante simples, uma TCP é uma incubadora tecnológica de cooperativas populares.
E aí vamos traduzir incubação que é uma palavra estranha a muitos ouvidos a facilitar ajudar Empreendimentos sociais de preferência coletivos que tinham dificuldade com básico, mas que tinham vocação talento vontade.
Uma incubadora é aquela que não é dá respostas prontas, mas que constrói junto com o sujeitos sociais esses primeiros passos de formação e consolidação desses Empreendimentos desde o momento de ajudar as pessoas a se empoderar para fazer uma ata e registrar essa ata no cartório até o momento de contribuir por exemplo ou como se faz uma planilha de custos para vocês entenderem o que tá entrando e o que tá saindo o que é um fluxo de caixa e outros papéis importantes, o que que é um preço justo?
WESLEY: Portanto, você pode começar a praticar economia solidária sem nem saber muito bem do que se trata. Você pode pensar mais em um consumo consciente e em práticas conscientes.
JOELSON: É sempre imaginar preço justo, o que que é o preço justo? Quando você entender que uma alface no Carrefour custa três e na feira custa 5. Imagine você Que alface que você vai pagar cinco, se você tiver condições de fazer isso é um alface que gera Mais Emprego mais renda mais saúde mais segurança alimentar e nutricional por mais que seja o mesmo produto, as redes que você estará contribuindo são redes e avançam na agroecologia, na produção orgânica e no encurtamento de uma cadeia produtiva que beneficia todos e todas
JULIANA: E aí tem uma uma historinha clássica que também é com alface, né? Que uma vez há bastante tempo já uma cliente falou no caixa para mim. Falou? Ah, Juliana. Você vem sempre com essa contando mais coisas, né? Eu venho aqui comprar um alface e você põe muito mais coisas dentro da minha sacola. Eu falei bom, mas as coisas que importam são as coisas que vão dentro da sacola e eu acho que um pouco que a gente faz no Candombá, que a gente faz no Chão um pouco aí abrindo um pouco esse repertório e esse Horizonte né do pensar das pessoas que é tão naturalizado.
KARINA: Esperamos que após esse episódio você coloque mais coisas dentro da sua sacola de compras.
Esse episódio foi produzido e apresentado por Karina Francisco e Wesley Bastos. A revisão de roteiro é da Simone Pallone e os trabalhos técnicos são de Octávio Augusto, da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e da Elisa Valderano, bolsista do serviço de apoio ao estudante da Unicamp. Se você gostou do episódio, deixe seu comentário nas redes sociais do Oxigênio. Estamos no instagram e no facebook como @oxigênio podcast.
WESLEY: Até a próxima!
————————————————–
TRILHAS FREE MUSIC ARCHIVE
https://freemusicarchive.org/music/SalmonLikeTheFish/Music_for_the_Sleepy_Traveler/01_-_Zion/
https://freemusicarchive.org/music/gillicuddy/Plays_Guitar/05-springish/
https://freemusicarchive.org/music/gillicuddy/Plays_Guitar/01-jupiter-the-blue/
12 October 2023, 9:04 pm - Série Fish Talk – Os peixes também sofrem – ep. 1
O Oxigênio apresenta um novo podcast parceiro, o Fish Talk. Desta vez tratando de peixes. Isso mesmo, um podcast sobre peixes! The Fish Mind é um programa desse podcast com foco na capacidade que esses animais têm de sentir dor e experimentar outros estados emocionais. Vamos ouvir também sobre suas habilidades cognitivas nos episódios desse programa. A ideia é trazer essas informações importantes em um diálogo informal de poucos minutos. O programa geralmente é composto por episódios independentes, mas temas que precisam de mais aprofundamento são apresentados em mais de um episódio.
O Fish Mind faz parte de um projeto que é fruto de uma colaboração do Centro de Aquicultura da Unesp (Caunesp) no Brasil com a FishEthoGroup, uma associação sem fins lucrativos que trabalha em prol do bem-estar dos peixes, preenchendo lacunas entre a ciência e as partes interessadas no setor da aquicultura, entre eles: produtores, certificadores, comerciantes, ONGs, decisores políticos e consumidores. A entidade foi criada em 2018 e está sediada em Portugal.
Quem apresenta o episódio são a Caroline Maia e o João Saraiva, pesquisadores da Associação FishEthoGroup. A introdução do episódio foi feita pelo Luiz Henrique Queiroz Leal. A Elisa Valderano colaborou com a edição.
Conheça agora o The Fish Mind Programme e acompanhe todos os episódios, você vai descobrir muitas curiosidades sobre peixes!
Se não conseguir aguardar a publicação dos episódios pelo Oxigênio, vá direto ao site do programa: https://fishethogroup.net/whatwedo/dissemination/fishtalk/
6 October 2023, 6:55 pm - # 171 – Adolescência – ep. 2
Alerta de gatilho: Este episódio da série “Adolescência” trata de temas difíceis, como depressão, ansiedade, impulsividade e sentimentos ligados às relações familiares, entre eles conflitos entre pais e filhos e também como lidar com essas questões. Ao falar destes temas, a nossa expectativa é trazer ideias de como você pode superá-los.
Mas, se você estiver passando por problemas emocionais, avalie se deve ouvir este conteúdo. talvez seja preciso fazer isso na companhia de uma pessoa próxima, e se você for menor de idade, é importante que um adulto responsável por você esteja junto. Além disso, é importante lembrar que você pode buscar apoio emocional no centro de valorização da vida pelo telefone 188. Os voluntários do CVV vão te ouvir de forma totalmente sigilosa e anônima.______________________________________
No segundo episódio da série “Adolescência: como as descobertas científicas podem ajudar a quebrar preconceitos sobre essa época da vida”, Cristiane Paião (@cristiane.paiao) e Mayra Trinca conversam sobre os sentimentos da fase e sobre como a atuação de professores e educadores pode ser fundamental para ajudar a identificar padrões em alunos que precisam de apoio psicológico.
Você vai conhecer o projeto de quadrinhos #turmadaJovenilda, que está sendo desenvolvido pelo projeto Adole-sendo da Unifesp em parceria com uma escola pública da zona leste de São Paulo, a EMEF Joaquim Osório Duque Estrada. São situações do dia a dia mas, com uma pitada de Ciência e Psicologia… uma mistura que dá super certo, hein!?
De uma forma leve e divertida, Cristiane e Mayra trazem trechos de uma roda de conversa gravada com os estudantes que criaram os personagens, dentro do projeto “Imprensa Jovem”, da Prefeitura de São Paulo.
Nesta conversa, guiada pela Cristiane e pelo professor Marcos Moreira, que coordena o projeto na escola, os adolescentes contam como se sentem em relação à tudo: à família, às mudanças do corpo e, principalmente, aos impactos trazidos pela pandemia da Covid-19, já que estavam em casa na maior parte deste tempo, tentando estudar, mas longe dos amigos e de tudo o que a escola pode significar.
____________________________________________
Cristiane Paião: Olá, eu sou a Cristiane Paião, e começa agora mais um episódio do Oxigênio, o podcast de jornalismo de ciência e cultura do Labjor, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp.
Este é o segundo episódio – de uma série de três – em que a gente vai mergulhar em um período lindo das nossas vidas – a adolescência. Você pode ouvir a primeira parte dessa conversa no episódio #162, que está disponível no Spotify. E quem me acompanha agora, é a Mayra Trinca que, assim como eu, também é professora… e adora falar sobre tudo isso que envolve a sala de aula . Vai ser um bate papo bastante interessante hein… tá animada Mayra ?
Mayra Trinca: Estou sim Cris. Oi pessoas!! Eu sou professora há três anos e dou aulas de biologia num colégio particular aqui da minha cidade. Quando você me disse que a gente ia ter um episódio assim, para falar de psicologia, das descobertas científicas nessa área, e sobre os impactos da pandemia eu já fiquei super empolgada, porque adoro discutir sobre adolescência.
Cristiane: Ahh… que legal… bom, eu espero que todo mundo goste, que todo mundo consiga refletir também, a partir desses conteúdos que a gente tá trazendo. Porque essa é uma das nossas intenções também. Os cientistas fazem a parte deles lá nos laboratórios… pesquisam, coletam dados, analisam, e nós, aqui no podcast oxigênio, a gente tenta trazer para você, ouvinte, essas reflexões… Então, é isso… vamos começar? Mayra… eu escolhi aqui, alguns trechos para mostrar pra vocês, muito legais de um bate papo que eu tive com alguns estudantes que participam do projeto “Imprensa Jovem” da Prefeitura de São Paulo. E que eu tive a grande oportunidade de participar de algumas reuniões durante o projeto Adole-ser, da Unifesp.
Eu tive uma bolsa, da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, para trabalhar na área da comunicação. Por isso a gente tá fazendo esse podcast sobre esse assunto – a adolescência… E foi muito legal poder acompanhar o “Imprensa Jovem”, esses bate papos deles, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho disso, de como eles lidam com esse ser “um jovem repórter”, um “jovem comunicador”.
Durante a pandemia, eles criaram uma personagem… a “Jovenilda”, para contar, em histórias em quadrinhos — o dia a dia deles. Eles fizeram isso junto com o professor marcos moreira. Tudo isso aconteceu lá na escola Joaquim Osório Duque-Estrada, que fica em São Matheus, na zona leste da capital paulista. É uma escola municipal, de Ensino Fundamental.//
Mayra: Eu tô super curiosa para ouvir essa história, Cris. Você me contou que esse projeto dos quadrinhos também teve uma parceria com esse projeto Adole-sendo, da Unifesp… que a gente conheceu no primeiro episódio, aqui dessa série, né?? Como isso aconteceu? A ideia era trazer ciência de um jeito diferente – menos “adulta” digamos assim, e discutir os sentimentos, os comportamentos com a família, com a escola… contando com a ajuda da psicologia. É isso?
Cristiane: Exatamente Mayra. Primeiro, os alunos e o professor marcos criaram alguns quadrinhos para formar o primeiro gibi, o “Jovenilda confinada”. E aí, eles inscreveram esses quadrinhos no concurso que o projeto Adole-sendo tinha feito durante a pandemia. E eles ganharam esse concurso, receberam o prêmio de destaque. Depois, o professor Marcos, e a professora Sabine Pompéia, que coordena o Adole-sendo, criaram novas histórias, mas sempre partindo do dia a dia dos estudantes, e dos resultados das pesquisas científicas…Dessas situações que a gente via a partir da sala de aula, que precisavam ser trabalhadas com a ajuda da psicologia.
E o que me impressionou muito, foi a semelhança do que eles estavam dizendo, com o que eu mesma estava sentindo. Quer ver só? Escuta esses dois trechinhos aqui…Ágatha e Álex falando.
Ágatha: “Antes das aulas, eu vivia saindo com meus amigos e tudo mais, andando de skate, e tudo mais. Voltou às aulas? Cara, eu já não tenho mais vida, entendeu? É do trabalho para a casa, e de casa para a escola, e da escola para a casa. vou dormir, o quê? Uma hora da manhã. Porque eu tenho um problema muito sério em dormir. acordo cinco e meio da manhã, tomo meu banho. Do trabalho… Vou para o trabalho, do trabalho? Vou para a casa. da casa? Para o serviço. e isso está sendo minha rotina…”
Álex: “A adolescência é a fase que a gente mais está se descobrindo, descobrindo o mundo. E é a fase onde mais cobram a gente”.
Cristiane: Interessante, né? E aí… parece que esse peso, nunca para… que acompanha a gente até a idade adulta. Os adolescentes têm essa percepção. Foi esse papo que rolou nesse dia, em uma das nossas nossa rodas de conversa. Você também assistir esses trechos, no canal do Youtube, do projeto Adole-sendo. Mas eu vou soltar outro trecho para vocês ouvirem mais, aqui no nosso podcast. Agora, quem fala, é a Micaelly.
Micaelly: “A adolescência deveria, ela ser a fase mais aproveitada, em que a gente deveria ter o direito de poder usufruir dela, mas os nossos pais, eles agem como se a gente… Eu não sei… se é uma frustração adulta, infringida nos adolescentes, de que a gente tem que viver uma vida como a deles. Uma vida pesada. uma vida corrida. Porque se a gente não fizer isso, a gente não é… nós somos mimados, nós somos fracos, nós somos isso e aquilo. Então, adolescência deveria ser a fase mais leve da vida. A fase em que a gente deveria ter o direito de viver, não a fase em que a gente tem que correr atrás, basicamente, para no futuro, ser alguém. Porque a gente já é alguém. a nossa adolescência deveria ser um berço.”
Cristiane: Você também costuma acompanhar esse tipo de desabafo, nas suas aulas, Mayra?
Mayra: Muito, Cris. Principalmente com a galera do terceiro ano, que tá na fase de vestibular. Eles tão sempre contando como sentem que não tão preparados pra escolher o que fazer pro resto da vida. Ainda assim, estão super cansados do ritmo puxado da escola, nessa preparação pras provas.
Cristiane: É… para a gente, que é professor, que já foi adolescente, que tem adolescente ao nosso redor, na família…. é muito importante ouvir esses relatos, entender o que eles sentem. Tem um outro trecho que me impactou muito também, porque o projeto é desenvolvido na periferia de São Paulo, e o Erick traz exatamente isso… como é ser um adolescente na periferia, e como ele se sentiu, conseguindo chegar ao Ensino Médio. Vamos ouvir.
Erick: “Pra mim, no meu ver, eu não esperava que eu ia chegar no ensino médio. Pra mim, pela vivência que eu tenho, eu ia morrer enquadrado… De verdade. No meu ver, ia ser assim. Eu não ia chegar no ensino médio, eu não ia estar aqui, eu não ia ter lutado por tudo que eu lutei hoje. E eu ia empacar, assim, na minha mente de criança, eu ia ficar sempre na sala com as mesmas pessoas, (Ágatha: a gente não ia crescer?). É, a gente não ia crescer, no caso… a gente não ia ter essa evolução. Pra mim, eu ia sempre chegar na escola e ver essa criança… (Ágatha: eu era maior que ele… risos) Mas essa era a minha cabeça, eu nunca pensei que eu ia ultrapassar isso, que eu ia ter responsabilidades além das responsabilidades normal de casa, de limpar, ajudar… para mim, eu ia ser uma criança, não ia ter que me preocupar, ou trabalhar, mas agora caiu a ficha que não vai ser só isso.”
Mayra: Forte, né?
Cristiane: É… eles me deixam orgulhosa, e ao mesmo tempo muito impactada, todas as vezes em que essas conversas acontecem. Porque a gente vê o quanto eles são maduros!! E como você, Mayra… lida com essas questões na sua sala de aula? Você acredita que a arte, que os quadrinhos, por exemplo… que a criação de personagens como a Jovenilda, podem ajudar a aumentar esse tipo de conversa? De diálogo mais aprofundado…Porque, eu, acredito…
Mayra: Acredito muito, a identificação com os personagens é super importante na adolescência, ajuda a perceber que tem mais gente passando pelo mesmo que você, né? E foi aí que surgiram os outros dois gibis, que foram publicados, certo? E que estão no site do projeto, de graça?
Cristiane: Isso. O segundo gibi traz sentimentos comuns, comportamentos mesmo dos adolescentes. Aqueles que a gente lembra… até os mais confusos…Como as mudanças hormonais, o ficar triste, as impulsividades, os medos… a tensão pré-menstrual das meninas… que a gente começa nessa fase, né? A aprender a lidar, a entender o que tá acontecendo com o nosso corpo, e também traz situações da sala de aula. Eles chamaram de “Jovenilda solta o verbo”. É muito legal.
E o terceiro gibi, já traz os conflitos de relacionamento, como lidar com o outros, negociar limites. Essas questões que aparecem no dia a dia, inclusive da família… E aí os quadrinhos trazem os personagens fazendo um trabalho da escola, com a Jovenilda liderando a turma — só que os problemas vão aparecendo…E a gente vai vendo como o papel dos adultos, e deles próprios, dos estudantes, em meio à tudo isso — é bastante importante.
Mayra: Aah, mas fiquei sabendo que o rolê não foi tão pacífico assim… ((risos))
Cristiane: É… o bicho pegou, viu, teve briga!!! (( risos ))
Mayra: Mas depois tem reconciliação?
Cristiane: Ah… eu não posso contar o final… tem que ler os quadrinhos! (risos)
Cristiane: Todo esse material, Mayra, tá disponível de graça no site do projeto Adole-sendo, www.adolesendo.info.// e vem junto com vários conteúdos — tanto pros alunos, quanto pros pais, educadores, pesquisadores — pra que todo mundo possa ler o gibi, e entender como essas situações podem ter a ajuda da ciência e da psicologia, pra melhorar conflitos, pra diminuir os preconceitos que a gente tem sobre essa fase da vida.
Mayra: E é justamente sobre preconceito que eles falaram né, Cris, nessa roda de conversa que você teve com eles lá na escola? Me mostra mais do que eles falaram então? Senão, a gente fica aqui, falando, falando, mas a estrela desse podcast, hoje… são os estudantes…
Cristiane: É verdade. Vamos. Só pra todo mundo entender, então: a Jovenilda, é uma menina negra, da periferia… estudante do nono ano do ensino fundamental. Que – como todos nós – passou por poucas e boas durante a pandemia. E foram os alunos que escolheram todas as características dessa personagem, a mãe dela é empregada doméstica… tem várias questões sociais que eles trabalham. E vocês vão entender porque, agora, ouvindo o que eles dizem sobre isso.
Micaelly: “Eu, que sou uma pessoa que consome bastante mangá, porque a gente só vê personagens brancos né… por exemplo, até para fazer cosplay e essas coisas, é muito difícil você achar um personagem que você se identifique. Então, por exemplo, você vê novos personagens negros surgindo, que você possa, assim representar, e com mais força dentro desse tema, é bom”
Hevelyn: “E tem outra… delas ser uma personagem negra, periférica e mulher. eu vou dar um exemplo aqui, muito… Cara, ele cabe aqui… O Pantera Negra, dois, agora… ele vai ser… a Shuri vai ser pantera negra, uma mulher! Tomando o manto de representatividade. Eu acho que quando o filme saiu, eu não me lembro quem comentou tão claro assim, de que uma pessoa se sentir representada quando saiu o filme do Pantera Negra, isso é tão importante tanto no quadrinho quanto no filme, a pessoa olhar e falar ‘nossa, eu vivo isso’, sabe? é isso, eu me encaixo.”
Cristiane: Essas que você ouviu são a Micaelly e a Hevelyn, legal, né? ///
Mayra: Mas Cris, eu fiquei muito curiosa pra entender mais desse processo de criar a personagem. Você gravou isso com eles, né? Vamos rodar esses trechinhos?
Cristiane: Gravei sim, vamos começar com a criação da personagem. Nesse trecho, alguns alunos conversam com o professor marcos, relembrando esse momento do grupo. Olha que legal essa fala do Allan.
Allan: “A Jovenilda é um trabalho completamente colaborativo. todo mundo ajudou de alguma forma, seja na escrita, seja na personagem em si, seja no design, seja na arte, seja em tudo. E eu acho que usar ela como essa forma de fala, para a gente, é algo muito importante. e ela não só fala, tipo, nas estórias dela. Só da gente estar mostrando nossas artes para o público, já é um modo de a gente se expressar, só das palavras que são transcritas , das nossas experiências naquele quadrinho, já é algo que expressa, basicamente, o que cada um desse projeto pinta. O design da personagem, em si, é baseado, basicamente, em duas integrantes do grupo, a Hévelyn e a Álex.”
Jamilly e professor Marcos: “A gente foi fazendo um mix da personalidade de todos, né? que a gente foi colocando de cada um…
Marcos: “É… e o visual tinha sido inspirado em vocês, né?”
Jamilly: “é…”
Marcos: “Pega a Hévelyn e mistura com a Álex… e a gente faz um mix aí, e vira a Jovenilda. então tudo na hora de desenhar, como que vai ser? vai ser assim? vai ter cabelo assim, assado? eu fui fazendo o rascunho, mostrei para vocês, depois vocês todos apareceram com o desenho dela, né? e é legal também essa questão da interpretação da jovenilda, no caso dos desenhistas, né?”
Jamilly: “Não só ela, mas todos os amigos dela, representam um pouquinho de cada pessoa que fez parte do projeto, e de cada estudante, tipo, de todo lugar.”
Mayra: Que legal!! Todo esse processo foi muito divertido, e pedagogicamente, muito importante também, né Cris? Quantos alunos participaram da criação da Jovenilda? Isso era uma coisa que eu tava querendo te perguntar, desde que a gente começou a gravar aqui, o episódio de hoje…
Cristiane: Foi um grupo pequeno, porque eles estavam em plena pandemia. Entre 10 e 15 alunos. E esse era um projeto de contraturno, então não eram todos os alunos que participavam. Mas cada um ajudou de um jeito. E como nem todo mundo sabia desenhar, alguns criaram o roteiro, outros desenvolveram características das personagens. Foram várias formas de participação. Foi um projeto colaborativo. Agora, com a volta das aulas presenciais, o projeto tá sendo retomado, e tá todo mundo super empolgado pra recomeçar. Esse grupo, inicial, já saiu da escola – porque a Joaquim Osório é de Ensino Fundamental, então, foram fazer o ensino médio em outro lugar. agora, em 2023, vão ser novos alunos, portanto, tem muitas histórias novas por aí.
Agora…eu gravei um trechinho em que eles explicam uma outra coisa legal: porque eles decidiram que Jovenilda tinha que ser jornalista. Porque, pra gente, que é da área, isso é interessante, né? Ela podia ser médica, engenheira, podia ter várias outras profissões. Tá a fim de ouvir?
Mayra: Claro… bora ouvir. É a Hevelyn e a Jamilly que vão contar, né… tô curiosa.
Hevelyn: “A gente escolheu a Jovenilda como jornalista, por conta do projeto que o professor Marcos iniciou na escola, de Imprensa Jovem. e, no começo, ‘vamos fazer?’, ‘vamos fazer’. E a gente sempre ia. ‘Ah, vamos cobrir?’, ‘vamos’. Então, a gente resolveu trazer isso, e como que a galera trabalha nisso, como que interage. A gente não tinha muito recurso. por exemplo, uma câmera, um celular. O microfone, também era o celular. Então, a gente tinha uma certa dificuldade, mas conseguia fazer, conseguia desenvolver do nosso jeito. E o professor marcos, sempre ensinando, tipo, dando auxílio.”
Jamilly: “E mostrar que o lugar que a gente mora, nos quadrinhos, eu acho que foi uma coisa muito incrível, justamente por causa disso, para mostrar que todo mundo tem voz e precisa ser visto, né? e o lugar onde a gente veio é importante para a nossa formação, e para a formação de quem a gente é.”
Mayra: Que legal, adorei. E o professor marcos tem um projeto bem estruturado, que outros professores também podem se inspirar, e replicar… pra trabalhar histórias em quadrinhos com os seus alunos, criar mais personagens, a partir das suas próprias realidades. É isso, Cris?
Cristiane: É isso mesmo. São projetos diferentes. A personagem “Jovenilda”, o professor marcos vai continuar desenvolvendo. Ele faz oficinas, na rede pública de São Paulo, pra ensinar outros professores a desenvolverem esse trabalho também. O que ele fez – dentro do projeto Adole-sendo, da Unifesp – foi desenvolver uma parceria, e criar roteiros com foco em ciência, a partir das pesquisas das pesquisas em psicologia. Ele me explicou como foi, em uma das nossas entrevistas. Ele cita a professora Sabine Pompeia, coordenadora do projeto Adole-sendo.
Marcos: “Por exemplo, a Sabine, ela tem uma uma lista de temas baseado nas pesquisas que ela desenvolveu. Então, ela me passa essa lista de temas, e ela diz para mim assim ‘o adolescente se comporta assim por causa disso’, e aí baseado nesse comportamento que ela quer que eu trabalhe, eu crio um enredo. E esse enredo, muitas vezes, eu trago a própria experiência dos alunos, porque como a gente trabalha em sala de aula, a gente não só passa a matéria né… Eu sou professor de língua portuguesa, então eu não só ensino gramática e cultura e interpretação de texto, eu convivo com adolescentes! Então a gente acaba vendo os comportamentos deles em sala de aula, ou até mesmo em conversas informais com os adolescentes, e a gente começa a compreender como que é esse universo, o que eles passam, o que eles pensam, o que eles sentem, quais os problemas que eles têm. Então, eu trouxe isso pegando o tema que a Sabine me passou, criando um enredo, com base na experiência que eu vejo que os adolescentes têm.”
Cristiane: Agora deu pra entender um pouco melhor Mayra?
Mayra: Deu, deu sim Cris. E como eles se sentiram, ganhando, esse prêmio, aparecendo como destaque, em uma universidade?
Cristiane: Hummm… eu perguntei isso pra eles também. Vamos ouvir o que eles disseram. O primeiro a responder é o professor Marcos, e na sequência, a gente escuta o Allan, um dos estudantes.
Marcos: “A importância desse concurso foi que os alunos começaram a ver que aquele material que eles desenvolviam ali, por brincadeira, por hobby, ele poderia ser visto por outras pessoas, apreciado por outras pessoas. Então é uma emoção de um adolescente de 13 anos passar em primeiro lugar, num concurso de desenho, sobre um quadrinho. E também porque os quadrinhos eram baseados nas próprias experiências dos alunos.”
Allan: “Eu gosto muito disso, que a gente tá pegando personagens que são basicamente a gente, e isso é muito bom, e eu espero que a gente continue usando esses personagens para contar histórias reais. “
Cristiane: Justamente falando em histórias reais… teve uma fala da Ágatha na nossa roda de conversa, que eu queria muito mostrar pra vocês, porque me lembrou muito de como eu também me sentia – e ainda me sinto. Olha só.
Ágatha: “Geralmente a gente, nós adolescentes, a gente se preocupa muito com o próximo. Querendo ou não, por mais que não pareça, a gente se preocupa muito com o próximo. E muitas vezes a gente abafa o nosso sentimento para que a gente possa estar ajudando as pessoas.”
Cristiane: Por isso, eu queria apresentar pra vocês agora, a professora Sabine Pompéia, coordenadora do projeto Adole-sendo, pra explicar porque trabalhar com esses temas é tão importante, tentando trabalhar uma linguagem mais simples, clara, objetiva… e divertida, pra poder atingir os adolescentes.
Sabine Pompeia, bióloga – coordenadora do projeto Adole-sendo da Unifesp: “Oi, meu nome é Sabine, e eu sou coordenadora de um grande projeto de pesquisa que visou investigar como era o desenvolvimento normal de comportamentos na adolescência. Esse projeto começou em 2017 e, no começo de 2020, a gente tava pleno vapor, quase terminando de obter os dados dos adolescentes e das suas famílias, quando aconteceu a pandemia. Muitas famílias perderam emprego, não tinha um jeito de viver todo mundo junto, dentro de espaços muito pequenos, gerando muitos conflitos entre adolescentes, irmãos, pais, outros familiares que moravam num espaço restrito, falta de acesso à escola. E essa preocupação que a gente tinha veio de estudos que a gente leu sobre o que aconteceu com adolescentes em outras pandemias, principalmente na África.”
Mayra: Isso é muito interessante Cris. Agora que as coisas estão mais calmas, parece que a gente tá esquecendo um pouco de como foi o começo da pandemia, mas todo mundo sofreu algum tipo de impacto nesse período.
*** notícias da pandemia // batidão com reportagens
Cristiane: Caramba… e como nós, professores, fomos impactados, né? Nós estudantes… somos estudantes também, e atuamos diretamente com eles… por isso esses quadrinhos são interessantes. Eu volto a trazer um trecho da Sabine, do projeto Adole-sendo, porque ela explica como os quadrinhos da turma Jovenilda foram pensados, por ela e pelo professor Marcos, para serem uma ferramenta. Um ponta-pé inicial, mesmo, pra puxar uma conversa… pra começar um debate… Escuta só.
Sabine: “A gente reforça muito nesses quadrinhos a importância de a gente treinar habilidades, habilidades de regular o nosso humor, de prestar atenção no outro, de conseguir prestar mais atenção. Tudo isso precisa ser treinado, mais organização. quanto mais a gente treina, especialmente nessa fase da adolescência, mais o cérebro se molda à esse treinamento e permite que essas habilidades cheguem ao máximo quando eles cheguem a ser adultos. Então a ideia desses quadrinhos era mesmo ter uma linguagem diferente para poder comunicar algumas coisas para os adolescentes, para que eles ficassem sabendo os resultados das pesquisas científicas sobre a idade deles.”
Mayra: isso me lembra muito uma conversa que eu sempre tenho com meus alunos, que é contar pra eles como o cérebro demora muito pra se desenvolver por completo as últimas regiões podem terminar de amadurecer lá pelos vinte anos de idade. E esse é um dos fatores que faz a adolescência um período tão complexo. Só que a maioria dos adolescentes não sabe disso, e aí acabam sofrendo por perceberem que têm determinados comportamentos – como emoções muito fortes – mas não entenderem porque elas acontecem.// daí a importância de aproximar essas pesquisas do mundo deles.
*** volta trechos das reportagens – 2020, atingimos 50 mil mortos, começa o “isolamento social”, 2021, chega a fase mais crítica
Mayra: Eu sempre falo, Cris, que se a pandemia foi difícil pra nós, adultas, ela foi muito pior pros adolescentes. Principalmente porque a socialização é mega importante nessa fase. e eles acabaram perdendo muito dessa interação com outras pessoas da mesma idade.
Cristiane: Sim! E eles perderam não só os encontros, mas também eventos que funcionam como ritos de passagem e são muito importantes pra ajudar a entender as mudanças de etapas que acontecem na adolescência.
Hevelyn: “A minha maior frustração foi não ter a formatura por causa da pandemia, porque muita gente esperou. eu falo por mim. Eu esperei muito pra me formar no nono ano, mas não rolou, não teve a formatura, a festa em si, mas eu acho que é a expectativa de você esperar alguma coisa e vir um balde de água fria desse tamanho, que foi ‘ah não, vai ser 15 dias em casa’, e se tornou quase dois anos. então tem essa frustração né…”
Marcos: “A quarentena que durou muito mais q 40 dias.”
Hevelyn: “E, muito mais que 40 dias. durou o quê? um ano e meio? foi quase dois anos né…”
Jamilly: “E a gente estava conversando sobre isso, né? O que eu acho que é a questão, tipo, de não ter tido uma formatura, eu não sei… a Hévelyn falou que está com esse, tem esse mesmo sentimento… mas a questão de não ter tido uma formatura parece que a gente não concluiu o fundamental! mas é muito doido. é muito doido, né? Porque, tipo, tem hora que eu falo ‘nossa, mas gente, já estou no terceiro ano e eu não tive formatura de nono ano’, então parece que eu não consegui encerrar o ciclo.”
Cristiane: Isso é meio triste, né? Mas a parte boa é que a adolescência também é sobre perseverança, então, por mais que perder a formatura tenha sido um grande impacto, essa galera ainda consegue focar num objetivo maior.
Jamilly: “e essa questão de universidade pra todas, de fato, pra todos, de fato, a gente de fato. durante muito tempo eu achei que, tipo, eu não via algo como a universidade, principalmente essas… quando a gente pensa ‘nossa USP, nossa Unifesp’. nossa gente, qualquer uma dessas universidades, universidade pública, universidade federal. quando a gente… Eu, de verdade, eu nunca tive isso como algo que eu conseguisse alcançar, sabe? E ver pesquisas como essa aí, ver projetos como esse, que incentiva o protagonismo estudantil mesmo, nosso protagonismo. Lugares que dão espaço pra gente falar, sabe? Porque a gente tem voz, a gente tem voz, cada um tem, tem a sua voz…”
Mayra: Eu gostei muito desse final da fala da Jamilly, sobre a importância dos espaços de escuta e acolhimento dos adolescentes. porque é como a gente falou lá no comecinho, sobre como os adolescente não são ouvidos porque ainda não são adultos. eu tive uma professora na faculdade que dizia que a sociedade coloca os adolescentes como um “constante vir a ser”. E isso gera uma super cobrança em cima deles, porque eles precisam sempre estar se preparando pra vida adulta.
Cristiane: Agora, um outro momento, muito legal também, que eu pude acompanhar Mayra… foi quando eles receberam os gibis impressos. Escuta esse áudio, aqui. Olha esses aplausos, foi lá na escola.
Marcos: “É a publicação da revista da Jovenilda, com as histórias que vocês produziram (aplausos)…”
Mayra: Que demais. Eles viram, pela primeira vez, os gibis?
Pela primeira vez!! Foi super emocionante pra eles. E tem essa coisa, de pegar o papel, folhear… é diferente. Quem gosta de livro, de material impresso, sabe do que a gente tá falando. Agora, pra fechar o nosso episódio de hoje… eu separei um trechinho do que a clara trouxe pra gente, em uma das nossas rodas de conversa… Porque eu acho que é o que todos nós, mesmo agora, adultos, gostaríamos de dizer pra nós mesmos… se a gente pudesse voltar no tempo, sabe? Vê o que você acha.
Clara: “Se as coisas fossem mais leves e os adultos, os professores, ou até os outros adolescentes, não se cobrassem tanto, ou não se cobrassem uns aos outros, porque aí a gente conseguiria aproveitar mais essa fase que passa muito rápido. porque depois disso, você vira adulto e você vira adulto para o resto da vida! então, é uma fase que a gente deveria aproveitar da forma mais leve possível, e se a gente não se cobrasse tanto, ou se outras pessoas não cobrassem tanto a gente, acho que seria tudo mais leve”
Mayra: Muito linda essa frase, esse pensamento dela…
Cristiane: É, muito linda…
E… como não dava pra não deixar de dizer aqui… todos esses quadrinhos, da turma da Jovenilda, se passaram durante o período em que os cientistas estavam concentrando todos os seus esforços, no mundo inteiro, pra criar a vacina contra a Covid-19.
Aqui no Brasil, todo mundo se lembra, é claro, como foi emocionante esse momento, em que a primeira pessoa foi vacinada no país. Por isso eu fiz questão de trazer um trechinho aqui. Como a gente chama no nosso jargão, desse sobe som, pra vocês ouvirem… puxa aí na sua memória.
(entra áudio com a reportagem da primeira pessoa vacinada no Brasil // som de aplausos)
Cristiane: É emocionante, eu me lembro como se fosse hoje, desse momento…
Mayra: Emocionante mesmo.
Cristiane: Bom… o episódio **dois** sobre os sentimentos e comportamentos da adolescência fica por aqui, mas a gente lembra que essa é uma série – com três episódios!! E você já ouviu os dois primeiros, ainda falta mais um pra ouvir. A gente tá preparando, editando, e ele vai ser publicado em breve.
As entrevistas e a produção deste episódio foram feitas por mim, Cristiane Paião.
Mayra: A apresentação foi feita por mim Mayra Trinca e pela Cristiane Paião (@cristiane.paiao).
Cristiane: A revisão do roteiro foi feita pela Mayra Trinca. Os trabalhos técnicos são de Elisa Valderano Santos. O Oxigênio é apoiado pela SEC – Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp.
Mayra:
Todas as referências utilizadas neste episódio, e as entrevistas publicadas com os nossos convidados podem ser encontradas na nossa página na internet, www.oxigenio.comciencia.br.
Cristiane: Os episódios sobre a adolescência fazem parte do projeto “Adolescência e puberdade em pauta: divulgação jornalística das pesquisas realizadas no projeto temático “Efeito do desenvolvimento puberal na autorregulação do comportamento e suas relações com as condições de vida atual e pregressa”” que eu, Cristiane Paião, desenvolvi com o apoio da FAPESP através da bolsa Mídia Ciência.
Mayra: E o projeto Adole-sendo também recebeu apoio da FAPESP, pro desenvolvimentos das suas pesquisas.
Cristiane: Gostou do programa? E das questões que nós trouxemos hoje, sobre os sentimentos e comportamentos que temos durante a puberdade e a adolescência? Então, você não pode perder o próximo episódio.
Mayra: Nós vamos continuar falando sobre o impacto da pandemia na educação, mas trazendo dados de 2023 e debatendo com especialistas como está sendo essa retomada na aprendizagem!
Cristiane: Obrigada por nos acompanhar, e até lá.
Mayra: Até lá.
21 September 2023, 8:48 pm - More Episodes? Get the App
Your feedback is valuable to us. Should you encounter any bugs, glitches, lack of functionality or other problems, please email us on [email protected] or join Moon.FM Telegram Group where you can talk directly to the dev team who are happy to answer any queries.
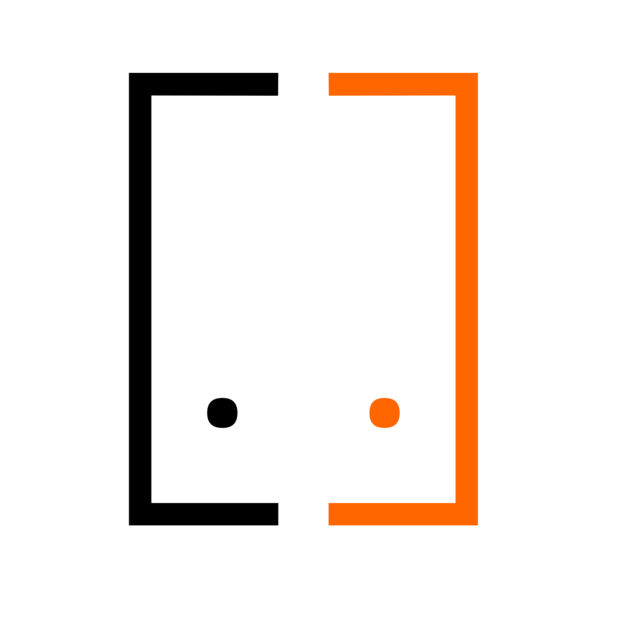 PODEntender
PODEntender
 NeuroPod
NeuroPod
 Alô, Ciência?
Alô, Ciência?
 Rock com Ciência
Rock com Ciência
 Biomedcast
Biomedcast